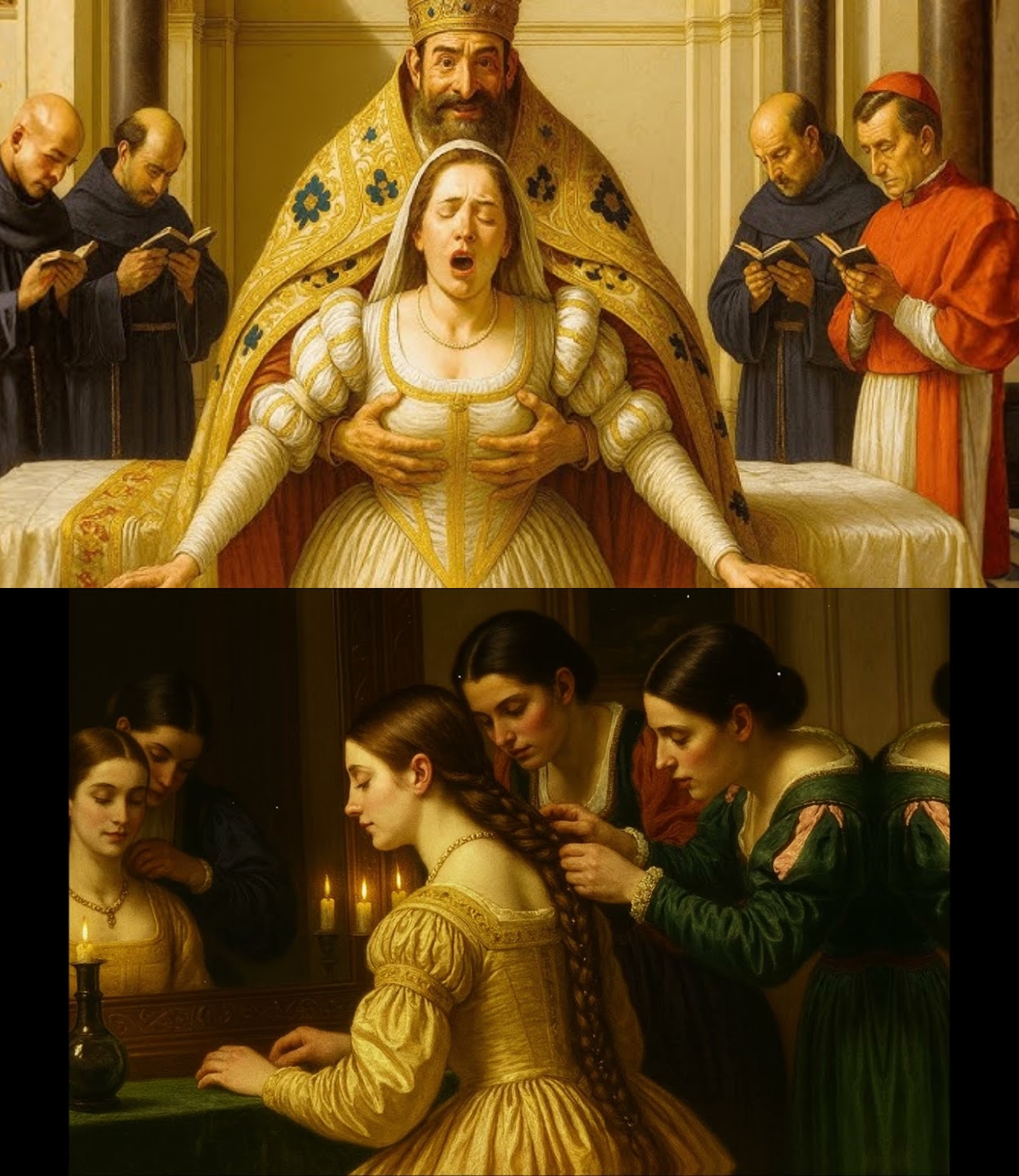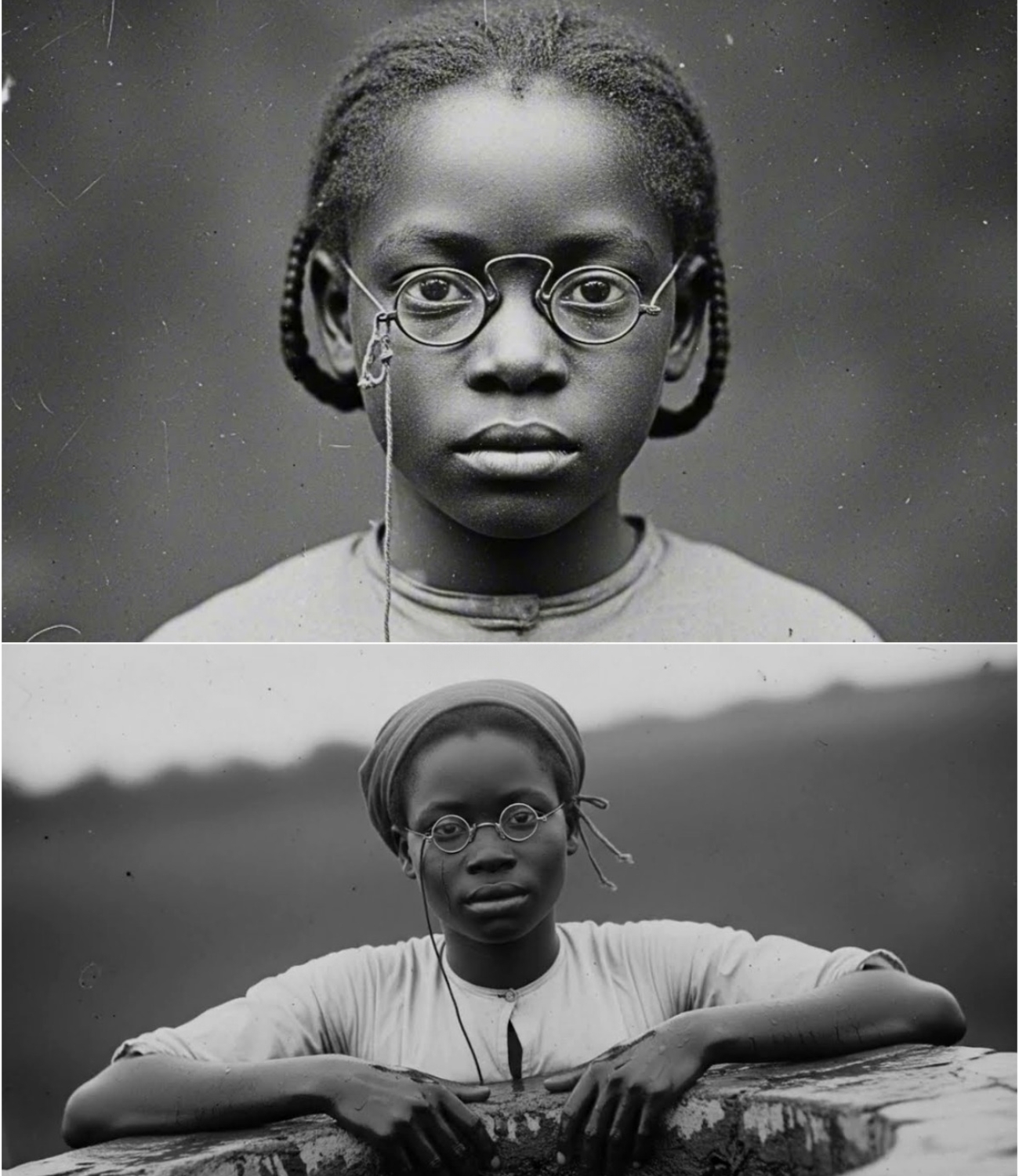“Pare!” Os 5 atos íntimos mais horríveis de soldados alemães que foram longe demais…

Estrasburgo, setembro de 1998. Um operário polaco chamado Marek Kowalski estava a demolir as paredes de uma casa abandonada na periferia da cidade quando a sua marreta atingiu um espaço oco sob o soalho do segundo andar. Entre vigas podres e teias de aranha, ele descobriu um pequeno caderno encadernado em couro gasto, tão antigo que o simples toque ameaçava desintegrar as páginas. Estava ali há mais de cinquenta anos. O que começou por ser curiosidade transformou-se em horror quando Marek começou a ler. Não eram notas comuns, eram confissões escritas à pressa com tinta diluída em água suja, escritas por uma mão trémula, por alguém que sabia que podia morrer a qualquer momento.
O nome na primeira página estava quase apagado, mas ainda legível: Lucienne Vormont, 32 anos, professora primária de Reince. Lucienne tinha escrito aquilo em 1944, no interior de um campo de triagem improvisado pela Gestapo num antigo convento nos arredores de Dijon. Ela tinha sido presa sob a acusação de ter abrigado membros da Resistência Francesa. Ela nunca mais voltou para casa. O seu corpo nunca foi encontrado. Mas as suas palavras sobreviveram, e essas palavras descreviam algo que nenhum documento oficial jamais admitiu: Os cinco atos íntimos mais cruéis que soldados alemães cometeram contra mulheres francesas prisioneiras durante a ocupação. Métodos de tortura psicológica, humilhação física e violência sexual sistemática que tinham um único objetivo: destruir completamente a dignidade humana.
Quando Marek levou o caderno às autoridades francesas, os historiadores ficaram chocados. Muitos duvidaram. Outros tentaram classificá-lo como ficção traumática, mas as análises forenses confirmaram: «A tinta era autêntica. O papel datava dos anos 1940 e os nomes de oficiais alemães citados por Lucienne correspondiam exatamente ao registo militar nazi encontrado em arquivos desclassificados décadas mais tarde.» O que tornava o relato ainda mais perturbador era a sua precisão clínica. Lucienne não escrevia como uma vítima desesperada. Ela escrevia como uma testemunha, como alguém que tinha decidido documentar o inferno para que ninguém pudesse jamais negar que aquilo tinha acontecido.
Antes de prosseguir, é importante compreender algo. Esta não é uma história fácil de ouvir, mas é necessária porque milhares de mulheres francesas viveram isto e morreram sem que ninguém soubesse. Elas morreram em silêncio, morreram sem nome. E se você está aqui a ouvir isto agora, talvez seja porque sente, como tantos outros, que estas vozes devem finalmente ser ouvidas. Se esta história o toca de alguma forma, considere deixar um comentário dizendo de onde nos está a ver para que saibamos que estas memórias não serão esquecidas novamente. E se puder, subscreva o canal. Cada subscrição é um compromisso de manter viva a memória daqueles que não puderam contar as suas próprias histórias.
Agora, passemos ao primeiro ato descrito por Lucienne.
Ato 1. A Inspeção da Vergonha.
Lucienne foi capturada a 12 de março de 1944, numa manhã gélida de inverno. Soldados da Wehrmacht invadiram a sua casa em Reince após uma denúncia anónima. Foi algemada à frente dos seus vizinhos, atirada para a traseira de um camião militar e levada para um convento transformado em centro de detenção nos arredores de Dijon. À sua chegada, foi recebida por um oficial da Gestapo, chamado Sturmführer Klaus Ritter, um homem de olhos claros e voz terrivelmente calma. Ritter não gritava, não precisava. O seu método era mais eficaz.
Lucienne e outras 17 mulheres receberam ordem de se despir completamente à frente de todos os soldados presentes. Não era um procedimento de revista padrão, era algo planeado. Foram colocadas nuas, em fila, sob a luz crua dos candeeiros pendurados no teto. O frio mordia a pele. O chão de pedra queimava os pés descalços. Então começou o que Ritter chamava de Inspektion der Reinheit, a inspeção da pureza. Os soldados caminhavam lentamente entre as mulheres, tocando os seus corpos, comentando em voz alta os seios, as ancas, as cicatrizes. Eles faziam piadas, riam. Alguns tiravam fotografias, outros apenas observavam, fumando cigarros, como se estivessem a avaliar gado num mercado.
Lucienne escreveu: «Não foi a nudez que me quebrou, foi perceber que para eles, deixámos de ser humanas naquele momento exato. Tornámo-nos objetos de carne, nada mais.» Mas o pior ainda estava por vir. Ritter ordenou que as prisioneiras fossem examinadas internamente por um médico alemão. Não havia necessidade médica. Era apenas uma forma adicional de humilhação. O médico, identificado mais tarde como Doutor Friedrich Vogel, conduzia os exames sem luvas, sem assepsia, sem qualquer respeito. Enquanto isso, os soldados observavam. Alguns faziam comentários obscenos, outros tiravam notas em cadernos como se estivessem a documentar algo científico. Uma jovem de apenas 19 anos chamada Marguerite desmaiou durante o procedimento. Foi arrastada pelos cabelos e atirada para uma cela escura. Ninguém a viu mais.
A inspeção da vergonha ocorria sempre que chegavam novas prisioneiras e cada vez que acontecia, outra parte da alma de cada mulher era arrancada. Lucienne terminou esta entrada do caderno com uma frase que ressoaria durante décadas: «Ele queria ensinar-nos que já não tínhamos direito sobre o nosso próprio corpo e, naquele dia, muitas de nós realmente acreditámos nisso.» Documentos militares alemães capturados após a guerra confirmam que estas inspeções eram práticas comuns nos centros de detenção da Gestapo em toda a França ocupada. Mas nunca foram oficialmente reconhecidas como tortura sexual. Foram classificadas como procedimento de segurança. Foi apenas o primeiro ato e já era suficiente para destruir qualquer ilusão de que estas mulheres seriam tratadas como prisioneiras de guerra. Elas eram algo muito pior. Eram vítimas de um sistema concebido para desumanizar completamente.
Mas Lucienne continuou a descrever porque sabia que, se não o registasse, ninguém acreditaria. O que Lucienne ainda não sabia é que este primeiro dia seria apenas o começo de uma descida ao inferno que testaria os limites do que um espírito humano pode suportar sem se quebrar. Os próximos atos que ela descreve no seu caderno revelam uma crueldade tão sistemática, tão calculada, que mesmo historiadores experientes hesitam em lê-los. Mas ela escreveu cada palavra. E agora, mais de cinquenta anos depois, estas palavras exigiam ser ouvidas porque o segundo ato descrito por Lucienne não envolvia apenas violência física, envolvia a destruição da identidade. E quando você entender como isso foi feito, nunca mais verá a história da mesma maneira.
Ato 2. A Escolha Silenciosa.
Dijon, abril de 1944. Os muros do convento eram espessos, construídos em pedra secular que abafava qualquer som proveniente do exterior. Mas no interior, o silêncio era imposto por outra razão: o medo absoluto. Lucienne descreve no seu caderno que, após a inspeção da vergonha, as prisioneiras foram divididas em grupos e levadas para celas individuais ao longo de um corredor estreito e sem janelas na cave do edifício. Cada cela media menos de 2 m². Não havia cama, apenas palha húmida no chão. O frio era tão intenso que as mulheres tremiam incontrolavelmente durante toda a noite.
As primeiras horas nestas celas foram marcadas por uma terrível confusão. Algumas mulheres choravam suavemente, outras olhavam fixamente para as paredes de pedra, ainda em choque com o que acabavam de sofrer. O cheiro a mofo e urina impregnava o ar. A humidade escorria das pedras, formando pequenas poças de água gelada no chão irregular. Lucienne escreveu: «Neste corredor, descobrimos uma nova forma de solidão. Mesmo que pudéssemos ouvir a respiração umas das outras através das paredes finas, cada uma estava isolada na sua própria jaula de terror. Estávamos juntas, mas profundamente sós.»
Os guardas alemães desciam regularmente para distribuir magras rações: um pedaço de pão preto duro como pedra, uma tigela de sopa rala que continha apenas água turva e alguns pedaços de legumes podres. Algumas mulheres recusavam-se a comer, enojadas pela sujidade. Outras devoravam tudo, sabendo instintivamente que precisariam de todas as suas forças para sobreviver ao que se seguiria.
Mas o verdadeiro tormento começava quando as luzes se apagavam. Todas as noites, por volta das 22 horas, o Sturmführer Ritter descia ao corredor, acompanhado por dois ou três soldados. Os seus passos ressoavam na escada de pedra muito antes de aparecerem. Aquele som por si só era suficiente para gelar o sangue de cada mulher na sua cela. Ele caminhava lentamente, as botas pesadas martelando o chão de pedra num ritmo deliberado e ameaçador. Às vezes, parava a meio do corredor, apenas para deixar o silêncio prolongar-se, para deixar o terror crescer. Lucienne descreveu como algumas mulheres prendiam a respiração, esperando tornar-se invisíveis na escuridão das suas celas.
Depois vinha o momento temido. Os passos paravam em frente a uma porta. O cliquetar metálico da chave na fechadura, a porta que se abria a chiar e a ordem silenciosa: um simples gesto do dedo. A mulher escolhida era retirada da sua cela e levada para uma sala no fundo do corredor, um antigo depósito de vinho que tinha sido transformado em sala de interrogatório. As outras prisioneiras ouviam os passos a afastar-se e, em seguida, a porta pesada a fechar-se ao longe. Depois vinha o silêncio, um silêncio espesso, opressor, insuportável.
O que acontecia naquela sala variava. Às vezes, eram espancamentos brutais, metódicos, destinados a quebrar a vontade sem deixar marcas muito visíveis. Às vezes, era tortura com água gelada. As mulheres eram despidas e encharcadas durante horas no frio cortante da cave. Às vezes, era violação cometida por um único soldado ou por vários à vez, enquanto Ritter observava com indiferença, fumando um cigarro. Mas cada sessão terminava sempre com o mesmo aviso, murmurado com uma voz glacial no ouvido da vítima: «Não gritarás, não chorarás. Se fizeres o menor barulho, todas as outras morrerão.»
Lucienne escreveu: «Ela voltava horas depois, arrastando-se pelo corredor, a sangrar, a tremer, mas em silêncio absoluto, porque sabia que, se gritasse, pagaríamos o preço.»
Uma prisioneira chamada Claire, uma bibliotecária de Estrasburgo de 28 anos, voltou uma noite com o rosto tão inchado que mal conseguia abrir o olho esquerdo. O seu lábio estava rachado e o sangue seco no queixo. Quando passou em frente à cela de Lucienne, os seus olhares cruzaram-se brevemente. Claire não disse nada. Não precisava. Os seus olhos falavam por si, de uma dor tão profunda que nenhuma palavra podia contê-la. Este foi o segundo ato descrito por Lucienne, a imposição do silêncio como arma psicológica. Os soldados alemães não só violaram as mulheres, como as forçaram a permanecer em silêncio para proteger as suas companheiras. Eles transformaram a solidariedade num instrumento de tortura, a espiral da culpa.
Os dias passaram, depois as semanas. O padrão repetia-se com uma regularidade de pesadelo. Todas as noites, uma mulher era escolhida. Todas as noites, ela voltava quebrada, mas silenciosa. E todas as noites, as outras ficavam acordadas nas suas celas, a ouvir, à espera, a rezar para não serem as próximas. Uma das prisioneiras, uma costureira de Lyon chamada Anaïs, foi escolhida três noites consecutivas. Na primeira noite, voltou a coxear, segurando o lado como se tivesse costelas partidas. Na segunda noite, voltou com marcas de queimadura de cigarro nos braços. Na terceira noite, voltou com o rosto tão inchado que mal conseguia abrir os olhos. Anaïs sentou-se no canto da sua cela, apertou os joelhos contra o peito e ficou ali, imóvel, até ao amanhecer. Ela não disse uma palavra. Nenhuma delas o fez, porque todas sabiam. O silêncio era a única forma de sobrevivência coletiva.
Lucienne escreveu: «Nós carregávamos com todo o peso deste silêncio. Cada vez que uma mulher voltava sem ter gritado, sabíamos que ela tinha escolhido a nossa vida em vez do seu próprio alívio e este pensamento devorava-nos por dentro.» Mas Ritter e os seus homens compreendiam perfeitamente esta dinâmica e usavam-na para criar algo ainda mais cruel: a culpa. Algumas noites, escolhiam deliberadamente as mulheres mais fracas, as que estavam doentes, feridas, mal conscientes. Ele sabia que as outras prisioneiras sentiriam uma culpa excruciante ao verem estas mulheres vulneráveis serem arrastadas para fora das suas celas.
Lucienne descreveu que, numa noite, uma jovem chamada Simone, de apenas 21 anos, foi escolhida. Simone estava doente há vários dias, febril, mal consciente. Quando os soldados abriram a porta da sua cela, ela nem sequer conseguiu levantar-se. Desabou no chão. Um dos soldados riu. Ritter observou a cena com indiferença por um momento, depois ordenou que outra mulher fosse levada no seu lugar. Escolheram Élise, uma enfermeira de Clermont-Ferrand, que tinha cuidado de Simone durante os seus dias de doença. Élise olhou para Simone, depois para Ritter, e caminhou em silêncio em direção à porta. O que aconteceu naquela noite foi particularmente brutal. Élise voltou ao amanhecer, com as roupas rasgadas, com hematomas a cobrir-lhe os braços e o pescoço, com sangue a escorrer pela perna. Mal conseguia andar. Duas outras prisioneiras tiveram de a ajudar a regressar à sua cela. Quando Simone acordou, horas depois, viu o estado de Élise através das grades que separavam as suas celas. Ela compreendeu imediatamente o que tinha acontecido e começou a chorar, não de dor física, mas de culpa, porque sabia que Élise tinha ocupado o seu lugar.
Lucienne escreveu: «Foi nesse momento que percebi o que ele estava realmente a fazer. Ele não queria apenas quebrar-nos individualmente. Ele queria destruir os laços que nos mantinham unidas. Ele queria que cada uma de nós carregasse o peso da culpa de ter sobrevivido enquanto outra sofria.»
A resistência invisível.
Os arquivos históricos confirmam que esta técnica era ensinada nos manuais de interrogatório da Gestapo. Documentos capturados pelos Aliados após a guerra revelam instruções explícitas sobre como usar a solidariedade forçada como método de tortura psicológica. O objetivo era simples: fazer com que as vítimas se destruíssem emocionalmente entre si, mesmo sem querer. E funcionava terrivelmente bem.
Lucienne descreveu que, semanas mais tarde, algumas mulheres começaram a implorar para serem escolhidas no lugar das outras. Outras escondiam-se no fundo das suas celas, a rezar para não serem vistas. A coesão do grupo começou a fragmentar-se. Ritter observava tudo isto com satisfação silenciosa. Mas Lucienne também escreveu algo que os soldados não tinham antecipado: a resistência invisível. Apesar do terror, apesar da dor, apesar do isolamento, as mulheres começaram a criar sinais secretos. Uma leve batida na parede significava: «Ainda estou aqui.» Um sussurro mal audível através das fendas entre as pedras significava: «Não estás sozinha.» Um pedaço de pão deslizado por baixo da porta para uma vizinha demasiado fraca para comer significava: «Aguenta firme.» Estes gestos eram minúsculos, quase invisíveis, mas representavam algo profundamente poderoso: a recusa em abandonar a sua humanidade.
Lucienne escreveu: «Ele podia fazer-nos calar, podia magoar-nos, mas não podia apagar completamente o que éramos. Ainda éramos humanas e, enquanto isso fosse verdade, ele não tinha ganho.» Uma noite, enquanto Lucienne estava deitada na palha húmida da sua cela, ouviu um som estranho vindo da cela vizinha. Era uma voz, mal um sussurro, que cantava suavemente uma canção de embalar francesa. Outras vozes se juntaram, uma a uma, criando uma melodia frágil mas real na escuridão do corredor. Os guardas nunca ouviram, mas as mulheres sim, e por alguns momentos preciosos, deixaram de ser prisioneiras isoladas em jaulas de pedra. Voltaram a ser humanas.
Mas o terceiro ato descrito por Lucienne testaria esta humanidade de forma inimaginável.
Ato 3. A Falsificação da Esperança.
Maio de 1944. A guerra entrava na sua fase final. Os Aliados desembarcariam na Normandia em poucas semanas. Mas no interior do convento de Dijon, o tempo parecia ter parado. Os bombardeamentos distantes começavam a ser ouvidos em algumas noites. Os soldados alemães estavam cada vez mais nervosos, os seus movimentos mais bruscos, os seus olhares sombrios. Eles sabiam que algo estava a mudar, que a vitória que lhes parecera tão certa em 1940 se afastava rapidamente. Mas para as prisioneiras, estas mudanças não significavam nada. O seu mundo limitava-se aos muros de pedra húmida, aos corredores escuros, às noites de terror. O exterior já não existia para elas.
Lucienne escreveu que, em algumas manhãs de maio, as prisioneiras foram convocadas para o pátio central. Era a primeira vez em várias semanas que estavam todas reunidas. O sol da manhã era ofuscante depois de tantos dias passados na escuridão da cave. Algumas mulheres levantaram instintivamente as mãos para proteger os olhos. O pátio era pequeno, rodeado por altos muros de pedra cobertos de hera. Alguns pássaros cantavam nas árvores além dos muros. Uma lembrança cruel de que a vida normal continuava algures longe daquele inferno. As prisioneiras estavam em fila irregular, algumas mal conseguiam manter-se de pé. Muitas tinham perdido muito peso. As suas roupas pendiam dos seus corpos emagrecidos. Outras tinham ferimentos visíveis, hematomas amarelados, cortes mal cicatrizados, dedos partidos que nunca tinham sido tratados. Lucienne notou que faltavam duas mulheres. Ela não perguntou o que lhes tinha acontecido. Ela já sabia.
O Anúncio Inesperado.
Ritter apareceu acompanhado por um oficial mais jovem que Lucienne nunca tinha visto antes. Mais tarde foi identificado como o Obersturmführer Heinrich Müller, um homem de cerca de 25 anos, de traços angulosos e olhos de um azul glacial. Ele usava um uniforme impecavelmente passado a ferro, em forte contraste com a aparência dilapidada das prisioneiras. Müller transportava uma caixa de madeira. Ele colocou-a numa mesa improvisada no centro do pátio. Lá dentro, havia papel limpo, canetas e envelopes. Ritter sorriu. Aquele sorriso era pior do que qualquer expressão de raiva.
Ele anunciou com uma voz quase paternal: «Vão escrever cartas às vossas famílias.» Um murmúrio de confusão percorreu as fileiras das prisioneiras. Cartas? Porquê? Seria possível que iam ser libertadas? Ou seria outra armadilha? Lucienne escreveu: «Parecia demasiado bom para ser verdade, e era.»
Ritter explicou, com a mesma voz calma e medida que tornava cada uma das suas palavras ainda mais ameaçadoras, que teriam permissão para enviar uma mensagem para casa. Poderiam dizer que estavam bem, que seriam libertadas em breve, que tudo ficaria bem. Várias mulheres olharam umas para as outras, a esperança a nascer nos seus olhos pela primeira vez em semanas. Algumas começaram a chorar silenciosamente. A ideia de poder comunicar com os seus entes queridos, de lhes fazer saber que ainda estavam vivas, era quase insuportável após tanto tempo de isolamento total.
Cada mulher recebeu uma folha de papel e uma caneta. Müller distribuiu os materiais com uma eficiência mecânica, colocando cada conjunto à frente das prisioneiras como se lhes estivesse a conceder um grande favor. Mas depois vieram as instruções. Ritter ditou exatamente o que elas deveriam escrever. Não podiam mencionar o convento. Não podiam falar de tortura. Não podiam pedir ajuda. Tinham de escrever frases como: «Estou bem, serei libertada em breve. Não se preocupem comigo. Mal posso esperar para vos ver novamente.» As palavras tinham de ser escolhidas com cuidado. Qualquer desvio do guião seria notado imediatamente. Qualquer tentativa de codificar uma mensagem secreta seria punida.
Lucienne observou as reações à sua volta. Algumas mulheres hesitaram, com a caneta a tremer sobre o papel. Elas sabiam que algo estava errado. Outras, desesperadas para enviar qualquer sinal de vida às suas famílias, começaram a escrever rapidamente, as suas mãos trémulas traçando as palavras ditadas. Uma mulher chamada Mathilde, uma farmacêutica de Bordéus, levantou timidamente a mão e perguntou se podia adicionar algumas palavras pessoais. Ritter aproximou-se dela lentamente. Inclinou-se para que o seu rosto ficasse a poucos centímetros do dela e murmurou algo que só Mathilde conseguiu ouvir. Ela ficou branca como um lençol e começou imediatamente a escrever o que lhe tinha sido ditado, sem mais perguntas.
Lucienne foi uma das que hesitaram. Segurava a caneta, olhando para o papel em branco à sua frente. Cada fibra do seu ser lhe dizia que era uma armadilha. Mas quando viu Ritter a dirigir-se a ela, com aquela mesma expressão fria e calculista, forçou-se a escrever. «Querida mãe, estou bem. Não te preocupes comigo. Voltarei para casa em breve. Amo-te, Lucienne.» As palavras queimaram-lhe a mão enquanto as escrevia. Era uma mentira. Cada palavra era uma mentira. Mas ela não tinha escolha.
Assim que toda a escrita terminou, Müller circulou entre elas, recolhendo cuidadosamente cada carta. Ele colocou-as na caixa de madeira com uma precisão metódica, verificando se cada uma estava dobrada corretamente. Ele prometeu que seriam postadas imediatamente. As mulheres foram então levadas de volta para as suas celas. Algumas choravam de alívio, outras permaneciam silenciosas, desconfiadas. Lucienne pertencia a este último grupo.
A Descoberta Horrível.
Naquela noite, enquanto estava deitada na palha húmida da sua cela, Lucienne ouviu vozes vindas do andar de cima. Ela reconheceu a voz de Ritter e ouviu outra coisa: o som característico de papel a ser rasgado. O seu coração apertou. Ela compreendeu imediatamente. As cartas nunca seriam enviadas. Eram apenas mais uma ilusão. Uma crueldade adicional num sistema já saturado de crueldade.
Mas o pior ainda estava por vir. Vários dias se passaram num silêncio tenso. As prisioneiras esperavam, secretamente torcendo para que, apesar de tudo, as suas cartas tivessem realmente sido enviadas, que talvez as suas famílias as recebessem e soubessem que estavam vivas. Depois, uma semana mais tarde, algumas prisioneiras foram chamadas individualmente ao escritório de Ritter. Quando voltaram, estavam em estado de choque total.
Lucienne perguntou a uma delas, uma professora chamada Geneviève, o que tinha acontecido. Geneviève demorou a responder. Os seus lábios tremiam, as suas mãos tremiam. Finalmente, ela murmurou com uma voz quebrada: «Ele mostrou-me a carta que a minha mãe enviou em resposta. Ela diz que me repudia, que tem vergonha de mim, que sou uma traidora da França, que nunca mais me quer ver. Ela diz que estou morta para ela.» As lágrimas escorriam pelo rosto de Geneviève enquanto falava. Ela repetia as palavras incessantemente, como se não pudesse acreditar no que estava a dizer.
Outra prisioneira, Pauline, foi chamada no dia seguinte. Ela voltou com uma expressão vazia, como se algo se tivesse quebrado definitivamente dentro dela. Ela tinha recebido uma carta, supostamente do seu marido, a dizer que tinha pedido o divórcio, que se ia casar com outra pessoa, que não queria ter mais nada a ver com uma mulher que tinha colaborado com o inimigo.
Lucienne escreveu: «Foi então que compreendi a verdadeira crueldade do terceiro ato. Eles não apenas destruíram a nossa esperança. Eles falsificaram respostas das nossas famílias para nos fazerem acreditar que tínhamos sido abandonadas, para nos fazerem sentir que já não tínhamos ninguém. Nenhuma razão para resistir.»
A Técnica de Destruição Psicológica.
As análises forenses realizadas décadas mais tarde confirmaram que os centros de detenção da Gestapo em toda a França ocupada usavam sistematicamente esta técnica. Cartas falsificadas eram criadas com cuidado meticuloso: papel envelhecido artificialmente para corresponder à época, caligrafia imitada a partir de amostras de escrita roubadas durante as prisões e até selos postais autênticos desviados dos correios. Os falsificadores alemães eram, por vezes, tão hábeis que mesmo especialistas teriam dificuldade em distinguir os falsos dos verdadeiros. Eles copiavam o estilo de escrita, as expressões características, as fórmulas de saudação familiares. Tudo era concebido para ser o mais convincente possível.
O impacto psicológico era devastador e calculado com precisão. Num único golpe, os oficiais da Gestapo destruíam o último baluarte da resistência mental das prisioneiras: a convicção de que alguém, algures, ainda se importava com elas e esperava o seu regresso. Algumas mulheres deixaram de resistir completamente depois de receberem estas cartas falsas. Pararam de comer, rejeitando até as magras rações que lhes eram distribuídas. Pararam de falar, afundando-se num mutismo total. Simplesmente permaneciam sentadas nas suas celas, a olhar para o vazio, à espera passivamente da morte.
Uma mulher chamada Véronique, uma violinista de Nancy, ficou completamente catatónica após receber uma carta supostamente escrita pela sua filha de h anos, a dizer-lhe que a odiava por os ter abandonado, a ela e ao irmão mais novo. Véronique morreu três dias depois. Os guardas disseram que era pneumonia. Mas Lucienne sabia a verdade. Véronique tinha morrido de desespero.
O Contra-ataque da Verdade.
Mas Lucienne, apesar do terror e da dor, ainda conservava algo que os nazis não tinham conseguido destruir: o seu espírito analítico de professora. Ela examinou mentalmente cada detalhe da sua própria carta recebida, supostamente da sua mãe, e notou algo estranho. A sua mãe sempre tinha assinado as suas cartas de uma forma muito particular: «A tua mãe que te ama.» Mas a carta falsificada estava assinada simplesmente «mãe.» Um detalhe minúsculo, mas suficiente.
Depois, ela notou outra coisa. A carta mencionava que a sua mãe tinha-se mudado para uma nova casa em Reince. Mas Lucienne sabia que a sua mãe nunca teria deixado a casa da família, aquela onde vivia há 40 anos, aquela onde o pai de Lucienne tinha morrido, aquela que continha todas as suas memórias. Estes pequenos detalhes, estes erros subtis, provavam que a carta era falsa.
Lucienne começou discretamente a partilhar as suas observações com outras prisioneiras. Ela sussurrava através das fendas dos muros nos breves momentos em que os guardas não estavam a ouvir. Ela pediu-lhes que pensassem cuidadosamente sobre as cartas que tinham recebido, para examinarem cada detalhe, para procurarem inconsistências. Geneviève percebeu que a carta, supostamente da sua mãe, continha erros ortográficos. A sua mãe, uma ex-professora, nunca cometeria esses erros. Pauline notou que a assinatura do seu marido era diferente. A inclinação das letras não era a mesma. A pressão da caneta era diferente. Lentamente, metodicamente, as mulheres começaram a desconstruir as mentiras. E, com cada detalhe falso descoberto, um pouco de esperança renascia.
Lucienne escreveu: «Eles tentaram tirar-nos tudo, mas não conseguiram tirar-nos a verdade e a verdade era a nossa única arma.» Ela organizou um sistema de comunicação secreto entre as celas: pequenos pedaços de papel escondidos nas rações alimentares, mensagens codificadas batidas em código Morse contra os muros de pedra durante a noite, sinais discretos trocados nos raros momentos em que estavam na mesma sala. A mensagem era simples, mas poderosa: «As cartas são falsas. As vossas famílias não vos abandonaram. Continuem a resistir.» Esta descoberta coletiva reacendeu algo que os nazis pensavam ter extinto. A vontade de sobreviver, não apenas para si mesmas, mas para voltar para aqueles que realmente esperavam por elas.
Mas Ritter descobriria em breve que as prisioneiras estavam a partilhar informações e a sua resposta seria o 4º ato, o mais brutal de todos.
Ato 4 (Conteúdo Parcial).
Junho de 1944. Os bombardeamentos Aliados começaram a atingir áreas próximas de Dijon. O som distante das explosões ressoava através dos muros do convento. Cada detonação fazia as pedras antigas vibrar ligeiramente, fazendo cair pequenas nuvens de pó do teto das celas. Os soldados alemães estavam cada vez mais nervosos. Os seus movimentos eram bruscos, as suas vozes mais duras. Alguns falavam em voz baixa entre si nos corredores, discutindo notícias que tentavam manter em segredo, mas as prisioneiras conseguiam sentir a mudança na atmosfera. Algo importante estava a acontecer fora dos seus muros de pedra.
Para as mulheres presas na cave, estes bombardeamentos distantes representavam tanto esperança quanto terror. Esperança de que os Aliados se aproximavam, de que a libertação poderia estar perto. Terror de que os Alemães, no seu desespero crescente, se tornassem ainda mais impiedosos. Lucienne escreveu que durante estes dias tensos do início de junho, a atmosfera dentro do convento mudou de forma palpável. Os guardas eram mais brutais na distribuição das rações. Os interrogatórios noturnos tornaram-se mais frequentes e mais violentos. Era como se Ritter e os seus homens soubessem que o seu tempo estava a acabar e quisessem infligir tanto sofrimento q…