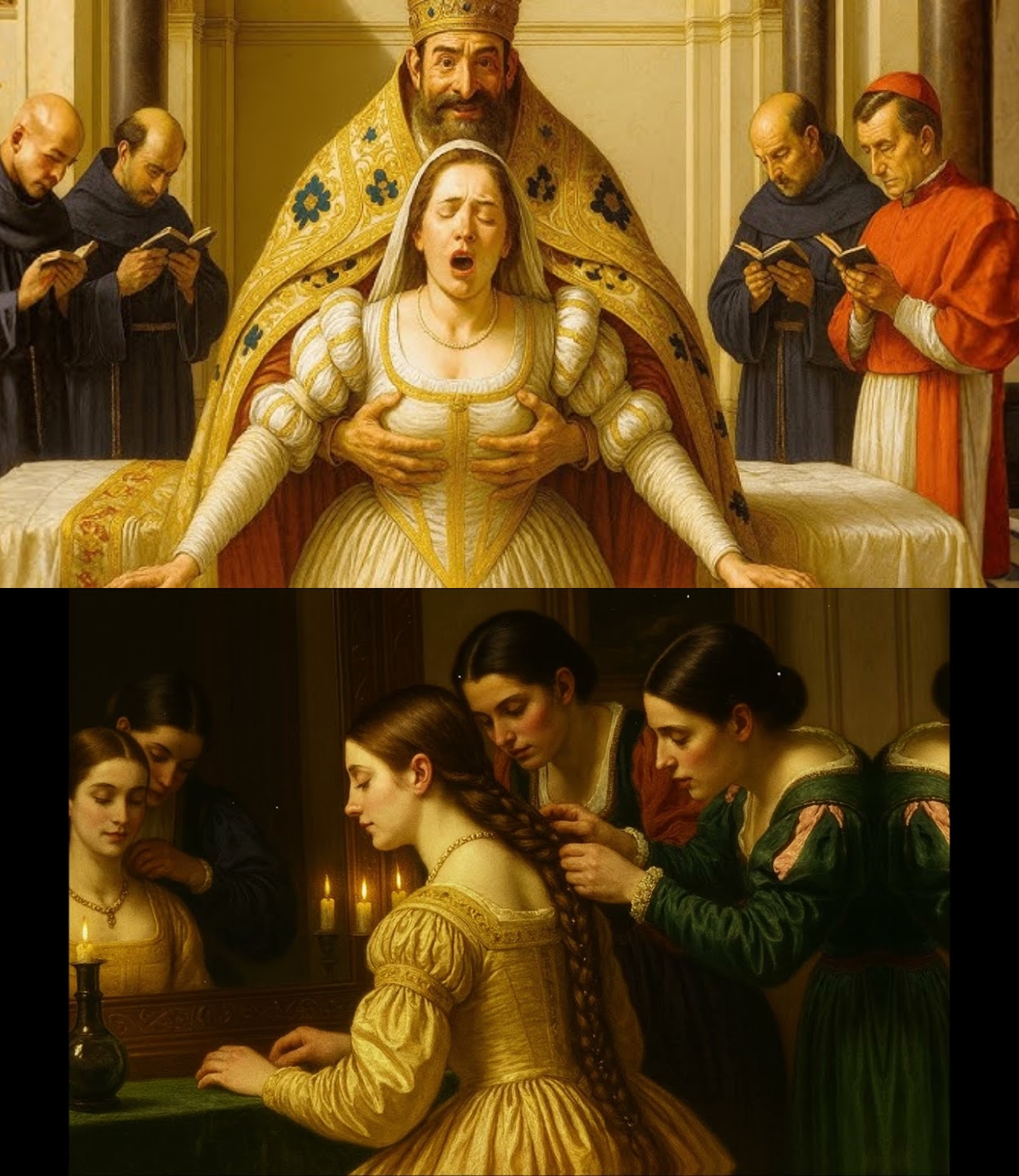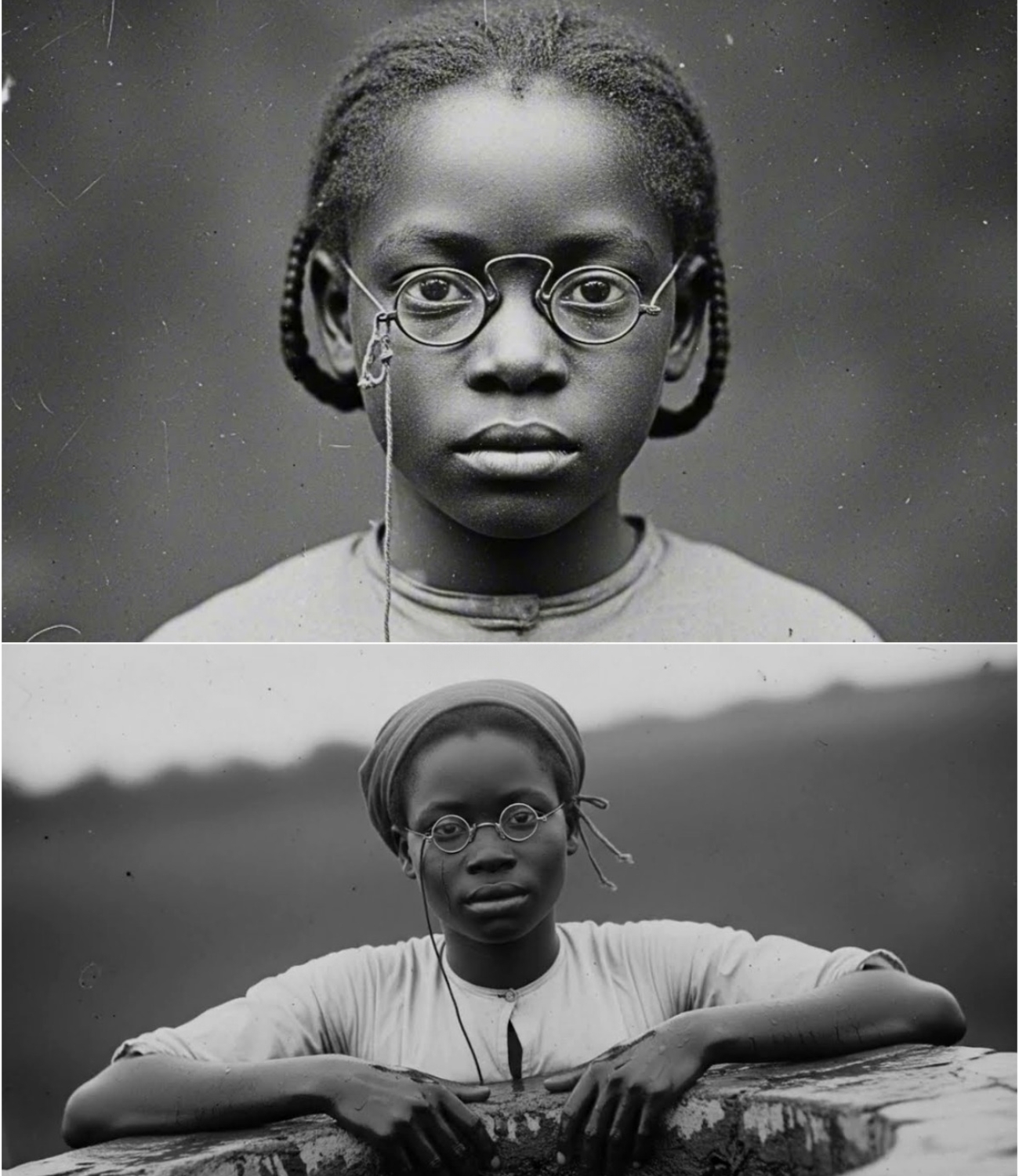O que os gladiadores romanos faziam às prisioneiras: o pesadelo depois dos jogos.

Imagine por um momento que você está encarcerado dentro do sufocante ventre de pedra da maior arena já construída. Bem acima da sua cabeça, 50.000 romanos acabaram de comemorar enquanto seu marido era despedaçado por um leão. E agora, enquanto a multidão se dispersa, as tochas começam a tremeluzir em uma escuridão fria. Mas aí você ouve passos pesados, deliberados e inegavelmente se aproximando da sua cela. Uma sombra encobre a entrada, revelando uma figura ainda encharcada de sangue que não é o seu. O gladiador que sobreviveu ao massacre do dia. Ele aponta para você.
Esta não é uma cena de um romance de terror gótico. Era apenas uma terça-feira na grandiosidade de Roma. Mas o que se segue é a parte da história que eles não ousaram te ensinar. Antes de revelarmos a realidade que eles esconderam, clique no botão “Curtir” para nos ajudar a descobrir a verdade. E me diga nos comentários de qual cidade você está testemunhando esse desenrolar histórico. Para compreender a verdadeira dimensão dessa atrocidade, devemos primeiro abandonar as areias ensolaradas da arena, onde os livros de história costumam se deter. Devemos descer às entranhas sufocantes do Coliseu, a um submundo labiríntico conhecido como hipogeu.
Enquanto os poetas e senadores lá de cima se deleitavam com a glória dos jogos, escrevendo versos floridos sobre coragem e destino, o mundo lá embaixo era uma fábrica mecânica de desespero, projetada com uma precisão que gela o sangue mesmo 2.000 anos depois. Isto não era apenas um porão. Era um extenso complexo industrial, um enxame caótico com 60 poços distintos, 32 órgãos hidráulicos e corredores intermináveis que cheiravam a óleo rançoso, pelos molhados e o gosto metálico do medo. Foi aqui, nas sombras bruxuleantes projetadas pelas lamparinas de óleo, que o Império Romano revelou sua verdadeira face.
A própria arquitetura foi projetada para oprimir. Os tetos eram baixos, obrigando a pessoa a ficar curvada. O ar estava estagnado, pesado com o calor de milhares de corpos e a maquinaria da morte. E o som era uma cacofonia de engrenagens rangendo e gritos abafados que a multidão que vibrava lá em cima jamais ouviria. Mas, em meio às jaulas de leopardos famintos e aos arsenais dos gladiadores, existiam câmaras específicas. Salas que não tinham qualquer função logística para os jogos em si. Quando arqueólogos da Universidade de Roma e equipes internacionais começaram a remover as camadas de sedimentos no século XIX, descobriram algo que não se encaixava na narrativa de um combate nobre.
Eles encontraram pequenas celas claustrofóbicas com apenas 10 metros quadrados de tamanho. E dentro dessas celas, a pedra conta uma história que nenhuma pena jamais ousou registrar. Cravejados profundamente nas paredes de travertino, encontram-se anéis de ferro, não no alto, onde se poderia acorrentar um prisioneiro de pé, nem no chão, onde se poderia acorrentar uma fera adormecida. Esses anéis estavam posicionados na altura da cintura, sugerindo uma postura de submissão forçada, permanente e agonizante. As paredes dessas câmaras, se você olhar atentamente sob a luz forte das modernas lâmpadas forenses, exibem os tênues e desesperados arranhões de unhas. O último testamento silencioso daqueles que perceberam que não haviam sido trazidos para cá para lutar, mas para cumprir uma função muito mais sombria.
Isso nos leva à assustadora eficiência da burocracia romana. Veja bem, Hollywood mentiu para você. Eles retratam a crueldade de Roma como o capricho de um imperador louco, um Nero ou um Calígula agindo por insanidade. Mas a verdade é muito mais perturbadora. O horror que se desenrolava sob a arena não era loucura. Era uma questão de política. Era um sistema operado com a mesma frieza administrativa que Roma usava para construir aquedutos ou pavimentar estradas.
Para compreender como uma sociedade pode industrializar a violência sexual contra mulheres presas, devemos primeiro entender como essas mulheres são desumanizadas muito antes de sequer chegarem aos portões da cidade. Esse processo teve início no momento em que uma legião romana esmagou uma rebelião na Gália, Judeia ou Britânia. Quando a poeira da batalha baixou, os sobreviventes não eram vistos como pessoas. Aos olhos do direito romano, a famosa Lex Romana que constitui a base dos nossos sistemas jurídicos modernos, essas mulheres passaram por uma transmutação metafísica. Elas deixaram de ser persona e se tornaram res.
Em latim, res significa coisa, objeto, móvel, ferramenta. De acordo com a lei, uma mulher cativa tinha exatamente os mesmos direitos que uma cadeira ou um animal de criação. Se você danificasse uma cadeira, não teria cometido uma agressão. Você havia causado apenas danos materiais. Essa distinção legal é crucial porque explica o vácuo moral em que os gladiadores e os funcionários da arena operavam. Eles não se viam como monstros. Em suas mentes, eles estavam simplesmente gerenciando o estoque do estado.
A jornada de uma mulher como aquela que imaginamos na abertura — vamos chamá-la por um nome que encontramos gravado nas paredes de um quartel em Pompeia, Amelia — começou semanas antes de sequer ver o Coliseu. Imagine, se você conseguir suportar, a enorme dimensão logística desse sofrimento após o incêndio de sua aldeia. Talvez em algum lugar nas colinas envoltas em névoa do norte da Inglaterra durante a Revolta de Boudica. Ela não foi simplesmente capturada. Ela foi fichada. Roma encarava as conquistas como uma colheita. Os homens em idade militar eram frequentemente executados no local ou enviados para as minas para trabalhar até que seus corações falhassem. As crianças foram separadas, categorizadas por idade e saúde, e enviadas para mercados de escravos no leste.
Mas as mulheres, as mulheres de certa idade e aparência, eram designadas como captivi. Elas foram acorrentadas em longas colunas, às vezes com milhares de pessoas, e forçadas a marchar centenas de quilômetros de volta à capital. Durante essa marcha da morte, seus nomes foram apagados. Um funcionário conhecido como commentariensis abria um livro-razão e as registrava não por quem eram, mas pelo que eram: Fêmea, de origem germânica, em idade reprodutiva adequada, destino: jogos imperiais. Quando Amélia chegou a Roma, ela já não era mãe, esposa ou filha da tribo dos Brigantes. Ela era uma unidade monetária na economia do anfiteatro.
Ela estava confinada naquelas celas úmidas e escuras sob o piso da arena, ouvindo o rugido de 50.000 pessoas vibrando pelo teto, sabendo que aquele som sinalizava a morte de seu povo acima. Mas os romanos, com sua obsessão por ordem, tinham um problema. Eles tinham milhares desses homens perigosos e desesperados, os gladiadores, que eram treinados para matar e tinham todos os motivos para se revoltar. Como sabemos pela história de Espártaco, uma revolta de gladiadores era o maior temor do Império.
Então, como um império controla uma população altamente letal de guerreiros escravizados? Você não pode simplesmente subjugá-los à força. Eventualmente, eles vão perder a cabeça. Não, você precisa oferecer incentivos a eles. Você deve dar a eles uma amostra do poder, uma amostra do domínio que a própria Roma exerceu sobre o mundo. E foi aí que as captivi foram utilizadas. Eles se tornaram a moeda biológica de um sistema de recompensa tão depravado que os historiadores modernos lutaram por décadas para encontrar as palavras certas para descrevê-lo. Chamaram-lhe Victoria Carnalis, a vitória carnal.
Não bastava a Roma derrotar seus inimigos no campo de batalha. Essa foi simplesmente uma vitória militar. Para esmagar de vez o espírito de uma nação rebelde, Roma acreditava que precisava dominá-los de todas as maneiras possíveis. E a expressão máxima desse domínio não foi a execução pública, mas a violação privada. A lógica era fria e absoluta: Tomamos posse de suas terras. Nós tomamos seus deuses. E agora damos suas mulheres como prêmios aos nossos escravos mais humildes.
Este sistema tinha uma dupla função. Para o gladiador, era uma libertação, um privilégio que o elevava momentaneamente acima de sua condição miserável. Para o Estado, era uma forma gratuita de manter seus combatentes dóceis. Mas para as mulheres presas na escuridão, aguardando os passos pesados de um vencedor ainda sob o efeito da adrenalina do assassinato, era uma descida a um inferno que Dante mal poderia ter imaginado.
Mas como exatamente essa transação ocorreu? Como um Estado transforma um ser humano em um bônus financeiro? O registro histórico, embora fragmentado, permite-nos reconstruir o teatro macabro da Victoria Carnalis com uma clareza quase sufocante. Imagine a sobrecarga sensorial do gladiador nos momentos que se seguem à sua vitória. Ele está de pé sobre as areias escaldantes da arena. Com o peito arfando, o rugido ensurdecedor de 50.000 cidadãos o envolvia como uma onda física. Ele está coberto de suor, poeira e o sangue jorrando das artérias de seu oponente derrotado. Ele está inundado de adrenalina, um semideus da violência em uma sociedade que venera o sangue.
Mas, ao sair do portal da vida, o porteiro vê o ruído do mundo exterior começar a dissipar-se, substituído pelo silêncio úmido e gotejante do submundo. Ele não vai aos banhos, ainda não. Ele é recebido por um lanista, um treinador, ou talvez um funcionário de baixo escalão da arena, segurando um anel de chaves de ferro. Juntos, eles caminham pelos longos corredores iluminados por tochas do hipogeu. O ar aqui é mais frio, com cheiro de corpos não lavados e do ferro enferrujado das gaiolas. Eles passam pelas celas onde os leões andam de um lado para o outro, nervosos, na escuridão. E finalmente, eles chegam ao setor designado para os captivi.
Não foi um ataque caótico. Foi um procedimento burocrático. O oficial consultava um livro de registros que confirmava a posição do gladiador e a qualidade de seu desempenho naquele dia. Uma célula específica seria selecionada. A pesada chave de ferro girava na fechadura com um som que ecoava na pedra. Um som que, para a mulher lá dentro, sinalizou o fim da espera e o início do horror.
Precisamos fazer uma pausa aqui para considerar a realidade psicológica da mulher, nossa Amelia, dentro daquela cela. Ela foi mantida na mais completa escuridão, ouvindo a violência abafada vinda de cima. Quando a porta se abre, ela vê uma silhueta emoldurada pela luz da tocha vinda do corredor. Um homem imenso e aterrador, vestindo a armadura de um assassino, com cheiro de morte. O funcionário não entra. Ele dá um passo para trás. Ele acena com a cabeça para o vencedor e então fecha a porta. A fechadura fecha com um clique pelo lado de fora.
O que aconteceu naquelas câmaras de pedra não foi registrado pelos poetas. Não foi imortalizado em mosaicos. Era considerado tão banal, tão funcional, que os escritores romanos mal sentiam necessidade de descrevê-lo. Era simplesmente um privilégio do vencedor. Mas a arquitetura permanece. O espaço confinado, a falta de ventilação, o isolamento absoluto. Essas pedras testemunharam a destruição final de milhares de mulheres cujo único crime foi pertencer a uma nação que Roma decidiu conquistar.
Mas se a Victoria Carnalis era o horror privado dos hipogeus, havia um horror público ainda mais depravado. Um horror que ocorreu sob o sol forte do meio-dia, enquanto os senadores e a elite se retiravam para suas vilas para almoçar. Esses eram os Meridiani, os jogos do meio-dia, e especificamente as reconstituições mitológicas. Veja bem, os romanos eram um povo profundamente religioso, mas sua piedade foi distorcida por sua obsessão com a dominação. Eles não queriam apenas ler sobre seus mitos; eles queriam vê-los ganharem forma humana. E se um mito envolvesse morte, sofrimento ou agonia, então um prisioneiro seria forçado a morrer, sofrer e agonizar exatamente como a história exigia.
O poeta Marcial, escrevendo no primeiro século d.C., documenta esses eventos com um distanciamento verdadeiramente arrepiante. Ele escreve não como crítico, mas como crítico teatral, elogiando o realismo da produção. Ele descreve uma farsa fatal envolvendo a lenda de Orfeu, o músico cuja canção podia encantar as feras da selva. Na versão romana, um prisioneiro condenado era vestido com as vestes esvoaçantes do bardo. Deram-lhe uma lira e empurraram-no para um palco concebido para se parecer com uma floresta mágica, com árvores e rochas reais importadas do campo. Então, os elevadores, obras-primas da engenharia romana, emergiam do chão, libertando ursos e feras. O roteiro previa que a fera fosse encantada, mas na realidade houve um massacre. Marcial escreve quase com um senso de ironia que naquele dia a música falhou. A plateia, saboreando tâmaras com mel e pão salgado, assistiu enquanto o Orfeu era despedaçado por um urso que havia sido mantido em jejum por três dias para garantir sua agressividade. Para eles, aquilo não era assassinato. Era uma peça de teatro em que os efeitos especiais por acaso eram sangue.
Mas há uma reconstituição histórica que se destaca como o exemplo mais perturbador da depravação romana. Envolve o mito de Pasífae. Na mitologia grega, Pasífae era uma rainha amaldiçoada pelos deuses a se apaixonar por um touro. É uma história bizarra e surreal, mas no Coliseu, sob o reinado do Imperador Nero e posteriormente de Domiciano, tornou-se realidade. Marcial descreve explicitamente uma produção em que uma prisioneira, uma mulher de carne e osso, foi forçada a interpretar o papel da rainha. Eles não a atiraram simplesmente à fera. Não, isso teria sido muito simples. Construíram uma estrutura de madeira, uma efígie oca de uma vaca, projetada com perversa genialidade pelos carpinteiros da arena. A mulher estava presa dentro dessa armadilha, imobilizada, incapaz de gritar, incapaz de se mover. E então um touro foi solto na arena.
A descrição do que se seguiu é algo que devemos ocultar para o bem de nossas próprias almas. Mas Marcial conclui seu poema com um verso que deveria assombrar qualquer pessoa que estude história: “Acredite que Pasífae foi acasalada com o touro de Dictynna. Nós já vimos isso. A antiga fábula está sendo confirmada.” Leia isso novamente. “Nós já vimos isso.” Ele está se gabando. Ele se orgulha de que Roma tenha o poder de pegar um pesadelo fantástico e impossível e forçá-lo a existir usando matéria-prima humana. A mulher dentro da armadilha de madeira morreu não apenas pelo ataque, mas também pelo peso esmagador do animal e da própria estrutura, e durante todo esse tempo, 50.000 pessoas assistiram e aplaudiram a precisão histórica da apresentação.
Este era o sanduíche de terror que definia os jogos romanos. O horror estava envolto em camadas de arte, religião e propaganda política. Ao enquadrar essas atrocidades como reconstituições mitológicas, o Estado romano lavou as mãos da culpa. Eles não estavam torturando uma mulher; eles estavam honrando os deuses. Eles não estavam estuprando uma prisioneira; eles estavam recontando uma história clássica. É um truque psicológico que os tiranos têm usado ao longo da história: envolva a crueldade na bandeira da tradição e as massas aplaudirão.
Mas voltemos às sombras do hipogeu. Porque, em meio a esse massacre industrializado, houve momentos em que o sistema entrou em colapso. Momentos em que a humanidade das vítimas se recusou a ser completamente apagada. Precisamos analisar as evidências físicas deixadas pelas mulheres que sofreram isso. Nas instalações dos gladiadores em Pompeia, preservadas pelas cinzas vulcânicas do Monte Vesúvio em 79 d.C., os arqueólogos encontraram os esqueletos de 18 pessoas. A maioria era do sexo masculino, mas havia uma mulher. Ela foi encontrada usando joias valiosas, esmeraldas douradas. Durante décadas, os historiadores presumiram que ela era uma nobre que visitava um amante gladiador, uma figura comum no mundo antigo. Mas análises recentes sugerem uma possibilidade mais sombria. As joias podem não ter pertencido a ela. Pode ter sido uma fantasia, um adereço. Será que ela era uma prisioneira obrigada a se vestir de deusa para satisfazer a fantasia particular de um gladiador antes de seu fim? Ou seria ela uma matrona rica que se viu do lado errado de uma purga política, destituída de seu status e jogada no quartel como carne comum? As cinzas não falam. Elas apenas preservam a forma dos corpos, encolhidos em posição fetal, protegendo-se de um calor que eventualmente consumiria tudo.
O pergaminho se deteriora, a tinta desbota. As tão alardeadas bibliotecas de Alexandria se transformaram em cinzas, levando consigo para o esquecimento a sabedoria dos antigos. Mas a pedra, a pedra possui uma memória perversa. A pedra espera. E nas profundezas da escuridão subterrânea do anfiteatro de Cápua, a mesma cidade onde Espártaco lançou sua rebelião fadada ao fracasso, a pedra preservou uma voz que nunca deveria ter sido ouvida. É aqui, na penumbra úmida de uma cela que não vê a luz do sol há 2.000 anos, que encontramos a evidência mais condenatória do pesadelo romano. Não se trata de uma grande inscrição esculpida por um mestre pedreiro. Trata-se de um registro grosseiro e irregular, gravado na parede de travertino à altura dos olhos, provavelmente com um fragmento de cerâmica quebrada ou, talvez, com uma unha desesperada. O latim é truncado, a gramática é precária, a marca de alguém que aprendeu a língua dos seus prisioneiros apenas através dos gritos dos guardas. A tradução é de arrepiar: “Eu era Amélia dos Brigantes. Eu vi meus filhos morrerem. Agora eu não sou nada.”
Vamos nos deter nessa frase final. “Agora eu não sou nada.” Ela não diz que está morrendo. Ela não diz que está com medo. Ela diz que não é nada. Isto não é uma declaração de mortalidade; trata-se de uma declaração ontológica. É o grito de um ser humano que internalizou o direito romano que discutimos anteriormente. Ela aceitou sua condição de res. Ela viu sua própria humanidade evaporar na escuridão, sendo despojada camada por camada até restar apenas a casca física. Uma concha à espera de ser usada por um gladiador ou uma fera.
Vamos reconstruir as últimas horas de Amelia com base na realidade forense dessas câmaras. Imagine a privação sensorial. A cela está completamente escura, exceto por uma fresta de luz que se infiltra por baixo da pesada porta de carvalho. O ar está denso com o cheiro de palha velha, corpos sem lavar e o odor metálico da ferrugem. Mas é o som que a destrói. Acima de sua cabeça, as tábuas de madeira do piso da arena rangem sob o peso do combate. Ela ouve o baque de corpos atingindo a areia. Ela ouve o rugido da multidão, um som como o de um oceano monstruoso que se agita e se choca a cada morte. Ela sabe que cada aplauso significa mais uma morte. E ela sabe que, quando os aplausos cessarem, os passos começarão.
Nessa solidão aterradora, Amelia faz a única coisa que lhe resta fazer, de acordo com seu próprio controle. Ela deixa uma marca. Ela risca o nome dela na parede. Por quê? É um ato de desafio, uma tentativa desesperada de se ancorar na realidade. “Eu era Amélia.” É uma reivindicação de um passado, de uma identidade que existia antes das correntes. “Eu pertencia aos Brigantes.” É uma reivindicação de um lar, de colinas verdejantes e céus cinzentos que ela nunca mais verá. E então veio a admissão: “Agora eu não sou nada.”
Este grafite serve como contraponto a toda a história do Império Romano. Construímos estátuas para César. Estudamos as táticas de Cipião Africano. Admiramos a filosofia de Marco Aurélio. Mas Amélia, Amélia é o combustível que alimentou a glória deles. Ela representa os milhões de fantasmas registrados na história. As mulheres cujos corpos foram espólios de guerra, cujo trauma serviu de entretenimento para a elite.
Mas o horror da história de Amélia se agrava quando observamos como o público romano reagiu às mulheres que optaram por entrar na arena. Isso nos leva a um paradoxo grotesco na psique romana: o escândalo da gladiadora. Veja bem, enquanto a vitimização de cativas como Amélia era considerada normal, uma função administrativa corriqueira, a ideia de uma mulher livre entrar voluntariamente na arena levou a elite romana a um frenesi de pânico moral. Juvenal, o satírico, escrevendo com profundo desprezo, descreve mulheres nobres que treinavam com espadas e escudos. Ele escreve: “Que tipo de vergonha pode haver em uma mulher que usa um capacete? Ela foge do seu gênero.”
Observe a hipocrisia. Era perfeitamente aceitável que uma mulher fosse estuprada por um gladiador em uma cela. Era assim que o mundo funcionava. Era aceitável que uma prisioneira fosse atacada por um touro em uma reconstituição mitológica. Isso era apenas justiça religiosa. Mas para uma mulher pegar uma espada, reivindicar para si a capacidade de exercer violência, tornar-se a agente em vez do objeto, isso era uma abominação. Esse duplo padrão atingiu seu ápice em 200 d.C., sob o imperador Septímio Severo. Ele assistiu a jogos em Antioquia, onde lutadoras entraram na arena. O público grego, a seu crédito, assistiu com certa sonolência, mas os espectadores romanos vaiaram. Gritaram obscenidades. Não conseguiam conceber a imagem de uma mulher como guerreira. Para eles, uma mulher na arena só podia ser um objeto sexual. Se ela não fosse a vítima, o mundo não fazia sentido. Severo, envergonhado pela desordem da multidão — não pela violência, entenda bem, mas pela falta de decoro — as gladiadoras foram banidas pouco depois.
Essa proibição nos diz tudo o que precisamos saber sobre a alma romana. Eles não baniram as Victoria Carnales. Não esvaziaram as celas do hipogeu. Não impediram de alimentar leões com escravas. Baniram apenas a única instância em que uma mulher poderia ter exercido poder. Queriam suas vítimas indefesas. Queriam que sua riqueza permanecesse na ignorância. E assim o sistema continuou por séculos. Depois que Amélia gravou seu testamento final na parede, a engrenagem parou de funcionar.
O Coliseu não era apenas um monumento à genialidade arquitetônica. Era uma catedral da misoginia construída sobre alicerces de ossos. Quando você caminha pelas ruínas do Coliseu hoje, os guias turísticos apontam o camarote do imperador. Mostram onde as virgens vestais se sentavam. Falam sobre os elevadores e as batalhas navais, mas raramente levam você às pequenas celas úmidas no anel mais profundo da fundação. Por quê? Porque é desconfortável. Porque nos obriga a confrontar uma verdade sobre a natureza humana que preferimos ignorar.
Gostamos de pensar nos romanos como civilizados, os ancestrais do nosso mundo moderno. Mas se ouvirmos atentamente o silêncio do hipogeu, se passarmos os dedos sobre os arranhões ásperos deixados por Amélia, somos forçados a fazer uma pergunta inquietante: a civilização é definida pela altura dos seus monumentos ou pela profundidade da sua misericórdia? Roma construiu os monumentos mais altos, mas nas celas escuras sob eles, a misericórdia estava extinta.
O arranhão de Amélia está desaparecendo agora. O tempo está fazendo o que o Império Romano não conseguiu. Está apagando lentamente o seu nome da pedra. Mas por este breve momento, através do eco digital desta gravação, ela existe novamente. Estamos testemunhando-a. Estamos reconhecendo que ela não era “nada”. Ela era o preço de um império. E enquanto nos preparamos para deixar a escuridão do mundo antigo e retornar à luz do presente, devemos fazer uma última pergunta incômoda: os jogos eventualmente pararam. O Coliseu caiu em ruínas. Mas a escuridão realmente desapareceu? Ou simplesmente se transformou? Qual era a sua forma?
Então, como terminou esse pesadelo? Muitas vezes nos contam um conto de fadas reconfortante sobre a queda dos jogos de gladiadores. A história conta que, com a conversão de Roma ao cristianismo, a luz moral da nova fé dissipou as sombras da arena. Contam-nos sobre o monge Telêmaco que, em 404 d.C., saltou para a arena para interromper uma luta e foi apedrejado até a morte pela multidão, envergonhando o imperador Honório a ponto de banir os jogos para sempre. É uma bela história. Fala de redenção. Fala de uma civilização despertando de um pesadelo de violência.
Mas a história, a verdadeira história, raramente é tão poética. A verdade é muito mais fria. A máquina da Vitória Carnal não parou porque Roma desenvolveu uma consciência. Parou porque Roma faliu. O sistema que exploramos hoje, o processamento industrial de prisioneiros de guerra em recompensas sexuais, dependia de um fluxo constante de novos recursos humanos. Exigia conquistas perpétuas. Precisava que as legiões estivessem constantemente incendiando aldeias em Dácia, na Trácia, na Numídia, para alimentar a fome insaciável dos hipogeus.
Mas, à medida que o império começou a ruir sob o próprio peso, as fontes de miséria secaram. As legiões não conseguiam mais se expandir. Mal conseguiam defender as fronteiras. O fluxo de cativos diminuiu drasticamente. Os jogos terminaram não porque os romanos perceberam que eram monstros, mas porque não podiam mais arcar com o combustível para manter a fornalha acesa. A infraestrutura de abusos não foi desmantelada; foi simplesmente abandonada. Os anéis de ferro nas muralhas não foram removidos em um ato de libertação; foram deixados para enferrujar porque não havia mais ninguém para acorrentar a eles.
E isso nos leva à constatação mais perturbadora de todas: a escuridão dos jogos romanos nunca foi derrotada; apenas adormeceu. Avancemos 2.000 anos até os dias atuais. Se você viajar para Roma amanhã, estará em uma longa fila sob o sol do Mediterrâneo. Estará cercado por turistas comendo gelato, famílias empurrando carrinhos de bebê e influenciadores posando para a selfie perfeita tendo como pano de fundo os arcos em ruínas. O Coliseu hoje é higienizado. Foi limpo de todo o sangue e excrementos. É apresentado como um triunfo da engenharia, um símbolo majestoso da grandeza de Roma. Os guias turísticos irão deslumbrá-lo com estatísticas sobre a pedra travertino e os sistemas de toldos retráteis. Venderão capacetes de gladiador de plástico e espadas de chaveiro, mas não o levarão às celas mais profundas. Não lhe pedirão para fechar os olhos e ouvir os gemidos fantasmagóricos das mulheres que morreram na escuridão enquanto os ancestrais da Europa moderna comemoravam lá de cima.
Transformamos a visão de um holocausto em um parque de diversões. Seria esta, talvez, a vitória final do método romano? Cometer atrocidades tão vastas, tão sistemáticas, que a história eventualmente reduz o horror a mero entretenimento. Olhamos para trás, para os gladiadores, e vemos heróis, não vítimas escravizadas. Olhamos para trás, para os imperadores, e vemos grandes construtores, não arquitetos do estupro industrializado. O tempo age como um narcótico. Ele embota as arestas da verdade até que possamos lidar com ela confortavelmente.
Mas as pedras do hipogeu não esquecem. São as testemunhas silenciosas da verdade imutável da natureza humana: a civilização é, muitas vezes, apenas uma fina camada sobre um abismo primordial. Roma era a sociedade mais civilizada da Terra. Tinha leis, filosofia, água corrente e poesia. E, no entanto, criou um inferno na Terra para os vulneráveis, justificando-o com um simples traço de caneta e o carimbo de um selo burocrático. Se Roma, a luz do mundo, pôde mergulhar em tamanha escuridão, o que nos faz pensar que somos imunes?
Olhamos para a Victoria Carnalis com horror porque ela está distante. É seguro julgar os mortos. Mas se removermos as togas e as sandálias, se olharmos além da tecnologia específica das gaiolas de ferro, não reconhecemos o impulso? O impulso de desumanizar o outro, o impulso de transformar seres humanos em mercadorias, o impulso de desviar o olhar quando o Estado nos diz que certas pessoas não são mais pessoas, mas meros restos mortais.
O Coliseu permanece hoje não como um monumento à glória romana, mas como um aviso. É um gigante, uma caveira oca encarando o céu com um olhar vazio, lembrando-nos do que acontece quando uma sociedade valoriza o espetáculo acima da humanidade. Da próxima vez que você vir uma foto daquele grande anfiteatro, não pense no rugido da multidão. Não pense no choque das espadas. Pense no silêncio. Pense no silêncio pesado e sufocante das celas subterrâneas após o fim dos jogos. Pense nos passos se aproximando da porta. Pense em Amelia e nas milhares de mulheres sem nome cujas vidas foram extintas para recompensar a violência dos homens. Elas se foram. O império que as destruiu se foi. Mas a escuridão, a escuridão espera. Ela espera nos pontos cegos da nossa própria moralidade, esperando que nos convençamos de que somos civilizados demais para permitir que isso aconteça novamente. E esse é o pensamento mais aterrador de todos. Durma bem.
Gostaria que eu pesquisasse mais sobre a arqueologia do hipogeu do Coliseu ou sobre as leis romanas mencionadas?