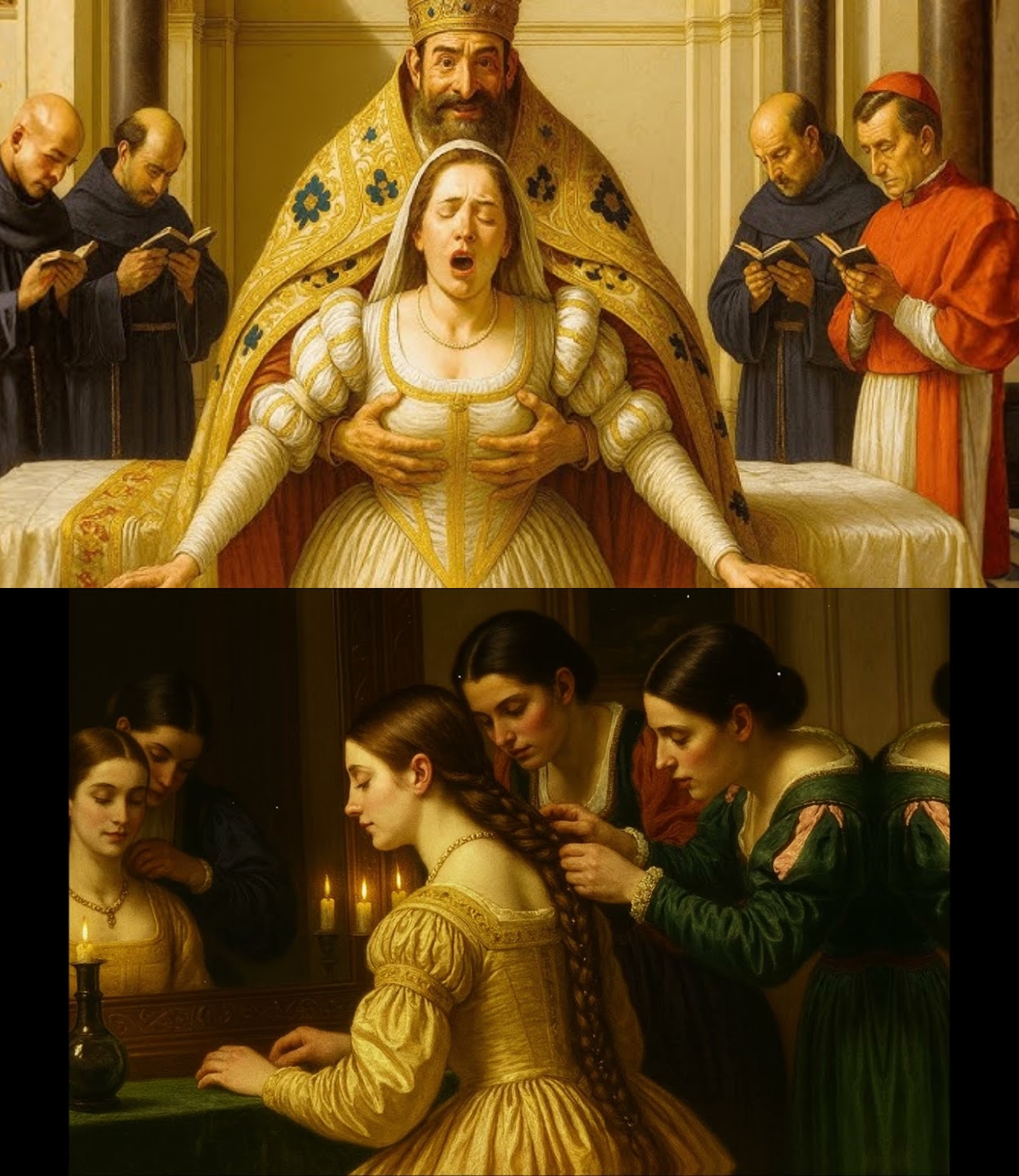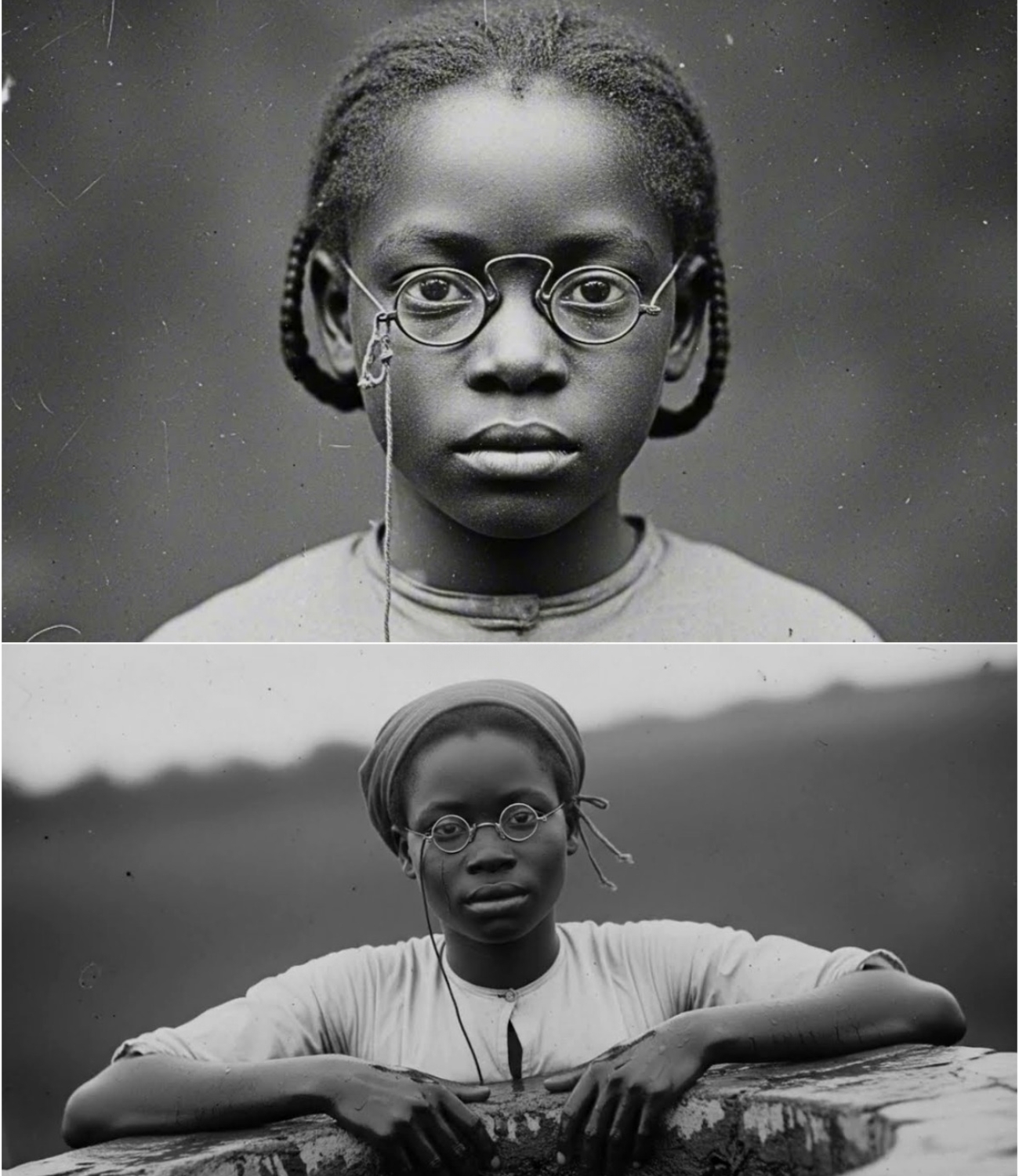O que aconteceu às freiras britânicas que quebraram os seus votos sagrados vai deixá-lo sem palavras…

Será verdade o que sussurram sobre os antigos rituais? Algumas verdades é melhor deixar enterradas, criança. Quando os sinos de Santa Inês silenciaram, o rio Moore engoliu mais do que apenas som. Ela engoliu a verdade. O convento erguia-se como um túmulo no alto dos pântanos de Lancashire, suas paredes de pedra acinzentadas pelo tempo e pela tristeza. Seus portões de ferro selaram o mundo desde os tempos da primeira peste. O vento uivava através das gárgulas quebradas que vigiavam o telhado da capela, e a névoa pairava densa como lã, mergulhando a terra em silêncio. Nenhuma risada passou pelas janelas altas. Nenhuma ave ousou fazer ninho em suas torres. Apenas orações sussurradas tão baixinho que o céu não podia ouvir.
A Irmã Ellen chegou a St. Agnes na primavera de 1645, com as mãos tremendo enquanto a abadessa pressionava o véu branco sobre elas. Ela não tinha mais nada a que se agarrar. Sua mãe, seu pai e dois irmãos foram enterrados sob uma árvore popular nos arredores da vila de Wormwood, seus corpos levados pela peste em menos de uma semana. Disseram que o convento era um lugar seguro, sagrado, acima do pecado e da doença. Mas, poucas horas depois, ela sentiu um frio ali que a peste nunca lhe havia ensinado. Ela era jovem, tinha apenas 17 anos quando lhe cortaram os cabelos dourados. Suas bochechas não haviam perdido a suavidade da infância, e ainda assim ela não falava de tristeza. Não havia espaço. O silêncio era uma virtude aqui. Obedecer era lei.
A irmã Anne foi a primeira a sorrir para ela. Não um sorriso largo, nem alegre, mas algo mais suave, algo raro, como a luz que rompe a chuva. Ela era mais velha, talvez por uma década. Seus olhos eram da cor do crepúsculo e sempre inquietos. Ela caminhava como alguém que sabia identificar quais pedras rangiam. Quando ela conduziu Ellen até o dormitório naquela primeira noite, sua voz era um sopro: “Nunca chegue perto dos tapetes da antiga capela, nem mesmo durante o dia.” Por quê? Mas ela apenas olhou para ela, depois para o crucifixo pregado acima da lareira de pedra. O silêncio dela era mais eloquente do que qualquer aviso.
Nas semanas que se seguiram, Ellen tentou se adaptar ao ritmo de vida em St. Agnes. Vésperas, jejum, tecelagem, oração, limpeza. Seus dedos ficaram cheios de bolhas, seu estômago doía de fome, sua voz falhou. Mas, em momentos furtivos junto ao poço ou dobrando as toalhas do altar, Anne sentava-se perto dela e sussurrava pequenas coisas, versos não das escrituras, mas poemas sobre florestas, pássaros, oceanos que Ellen nunca tinha visto. Em uma noite, Ellen foi pega sozinha no corredor sul, ajoelhada diante de um nicho escondido atrás da parede da capela. As velas estavam apagadas. Anne falava latim, mas não o tipo de latim que o abade ensinava. Sua voz falhou como galhos congelados. Quando Ellen se aproximou, Anne assustou-se e rapidamente escondeu algo sob o véu, vendo apenas um vislumbre: um rosário. Mas a cruz havia sido raspada, seu corpo desaparecido. Nada de Cristo, apenas madeira lascada. “Você reza de forma diferente”, sussurrou Ellen. Os lábios de Anne se entreabriram, mas nenhuma palavra saiu. Ela pegou a mão de Ellen. “Não pergunte novamente”, disse ela, e se afastou.
Naquela noite, o vento soprou forte e algo foi arrastado para além dos portões do claustro. Ellen não conseguia dormir. O dormitório estava mais frio do que deveria. Por baixo dos cobertores, ela sentiu o coração disparar. Não foi a tempestade. Foi o que ela ouviu através do chão de pedra. Um arrastar suave, o murmúrio de vozes e um canto baixo em uma língua que ela não conhecia. Ela se levantou descalça, com as pedras mordendo seus pés. Através das frestas na parede, ela viu: duas irmãs com os olhos vendados e as vestes manchadas na bainha são conduzidas pela nave à luz de tochas. A velha porta da capela abriu-se com um rangido. Uma terceira irmã saiu cambaleando, com as mãos em carne viva e os olhos arregalados como a luz do luar. Ela desabou no pátio, imóvel, com o véu encharcado de vermelho.
Na manhã seguinte, Ellen correu para o lado da cama de Anne: vazia. Quando ela perguntou sobre a Irmã Mary, os outros a encararam sem entender nada. Madre Geneviève apareceu atrás dela, uma sombra envolta em vestes sagradas. “Não fale daquilo que você não entende.” “Eu vi.” “Você ficará em jejum por 3 dias.” E assim ela fez. Seu estômago se contorceu todo. Seus sonhos começaram a mudar. Ela sonhava com mais. Apenas o convento havia desaparecido, substituído por fileiras de cruzes. Centenas sob a terra. As mãos se estenderam para cima. Sussurros percorriam as raízes. O choro de bebês ecoava em seus ouvidos, e o cheiro de sebo pairava no ar como podridão. Ao acordar, suas bochechas estavam molhadas e suas mãos agarravam o cobertor como se fosse o braço de alguém.
No sétimo dia, ela voltou sozinha ao poço. Ela esperou e Anne veio. “Eu sonhei com eles”, disse Ellen. “Os que estavam embaixo de nós congelaram. Eu vi o seu terço. Ouvi suas orações por muito tempo e não disse nada.” Então, de forma quase abrupta: “Somos ensinados a orar por misericórdia, mas a misericórdia nunca chegou aqui.” Ellen deu um passo à frente. “O que acontece na capela?” O olhar de Anne voltou-se para a torre onde o sino costumava tocar. “O sino tocava uma vez por noite à meia-noite, até que uma noite não tocou. Foi então que o primeiro desapareceu.” Desaparecido. Sem sepultura. Sem nome. Acabou de ir. Ellen prendeu a respiração. “Quem?” A voz de Anne baixou. “Uma menina chamada Lette. Ela quebrou sua promessa. Ou pelo menos foi o que disseram.” “Quebrou. Como?” “Alguém chegou. Ele era um homem. Ela não consentiu. Mas eles disseram que o corpo dela era uma tentação. Que o diabo a usou para zombar do tecido.” Ellen olhou para ela horrorizada. “E os homens?” “Ele era padre e disse isso categoricamente. Ele confessou. Ela se queimou.” Ellen deu um passo para trás, sentindo o vento frio apertar sua garganta. Eles a mataram. Eles chamaram isso de redenção.
Naquela noite, Ellen caminhou sozinha pelos corredores. Os outros estavam em oração ou fingindo. Algo sob a capela a atraía. Ela passou pelo corredor onde outrora orara. Dessa vez, ela estendeu a mão para o nicho. Uma pedra havia sido movida. Atrás dela, uma rachadura na parede. Ela se inclinou para a frente. Algo mudou dentro dela. Um grito fraco, quase não humano. Um ruído áspero de corrente. Ela fugiu e não compareceu ao jantar no dia seguinte. Ellen vasculhou o jardim, o poço, os bancos da capela. A cama de Anne permanecia intocada, os lençóis ainda dobrados, mas o colchão estava quente. Quando ela perguntou à Madre Geneviève, a abadessa apenas piscou. “Não há nenhuma irmã Anne aqui.” “Ela orou comigo. Ela morava aqui.” “Não há registro de tal irmã.” Ellen se virou para as outras freiras. “Diga a ela que todos vocês conheciam Anne.” Ninguém a encarou. Naquela noite, o dormitório parecia um túmulo. A vela tremia em seus dedos. E ao longe, onde a torre do sino se erguia imponente, ela jurou ter visto o véu de Anne esvoaçando ao vento, para depois desaparecer na névoa.
Os portões de ferro de Santa Inês estavam agora acorrentados e fechados, selados por ordem do magistrado local. Disseram que uma doença se alastrava por dentro, peste ou algo pior. Nenhuma carroça chegou trazendo pão. Nenhum sacerdote subiu o caminho lamacento para trazer bênçãos. O mundo exterior fechara os olhos para o convento e o deixara em silêncio, como se o silêncio não pudesse apodrecer. Nos dias que se seguiram ao desaparecimento de Anne, Ellen se movia como um fantasma, flutuando nas sombras, invisível, inaudível. Os outros mantiveram a cabeça baixa, os lábios cerrados de medo. A abadessa já não liderava as orações. Ela se trancou na torre de pedra com pergaminhos e velas que permaneceram acesas durante toda a noite. Fumaça subindo como incenso de algum lugar escondido. Ellen ouviu murmúrios vindos de baixo dos sinos que já não tocavam. Um nome pronunciado. O nome dela.
Ela voltou sozinha para a capela. O ar estava viciado, poeira flutuando como neve através de tênues feixes de luz colorida. De joelhos, ela procurou na parede onde outrora Anne escondera suas orações. Seus dedos percorreram cada sulco, cada reentrância. Então, atrás do suporte de velas, sob uma pedra solta meio engolida pela água, ela sentiu um pano rígido e velho e um rosário. Ela o libertou, prendendo a respiração enquanto as contas frias escorregavam por entre seus dedos, mas a cruz parou seu coração. Não foi Cristo que estava crucificado ali. A madeira havia sido esculpida com símbolos, laços estranhos, estrelas tortas e um círculo dividido em quatro runas; nada sagrado, nada da igreja. Ellen apertou-o contra o peito. Um sussurro roçou seu ouvido, não dito, não real, mas ainda assim a penetrou, caso sua carne a traísse.
Ela sentou-se diante do altar, onde o crucifixo se erguia imponente. Um lugar que outrora foi de paz. Mas agora ela via rachaduras no mármore, veios como cicatrizes antigas. Ela fez uma reverência profunda, com as mãos pressionadas contra a pedra, e algo fez um clique. Um tremor sob a palma da mão dela. Ela se inclinou para a frente. Na base do altar, uma pequena fresta entre os painéis revelava uma lasca de couro, fina, rachada e amarrada com barbante vermelho. Ela o libertou. Era um diário. Sem nome na capa, apenas um lacre de cera rompido há muito tempo. A tinta no interior havia desbotado em alguns lugares, mas as palavras ainda respiravam.
“Não me restam santos para quem rezar. Eles não respondem aos gritos. As anotações eram curtas e fragmentadas. Não há pecado em ser levado. Mas eles disseram: ‘Eu convidei o diabo com o brilho nos meus olhos’. A Madre Geneviève veio me visitar durante a noite. Ela disse: ‘Preciso sangrar pela igreja ou a igreja me sangrará’. Eles me deram ervas, mas o bebê continua se mexendo. Sinto uma torção quando fico imóvel. Eu vi outros três sendo levados para a câmara abaixo. Não ouvi nenhum grito de resposta.”
Ellen virou as páginas com as mãos trêmulas. “Eu não fui a primeira. Eu não serei a última. Eles chamam isso de quinto voto. Eles sussurram isso como se fosse uma oração. Se a tua carne te trair, a tua alma deve permanecer imaculada. Enterre o pecado. Silencie o mundo.” A última página estava borrada. Vermelho. A tinta escorreu em listras como lágrimas. “Eu só queria servir, mas eles nos entregaram às trevas.”
Ellen fechou o livro com força, sentindo um nó na garganta. O chão sob seus pés parecia mais frio agora, e ela sabia que Anne o havia escrito. Ou alguém como ela, e a criança. Ela fitou o altar, a base de pedra rachada. Tinha que haver mais. Ela passou as mãos pela base, pressionando, procurando. Respondeu um som oco. Suas unhas encontraram uma fenda, e ela pressionou com toda a sua força. Um painel gemeu. Pedra raspando contra pedra. Um alçapão. Sem dobradiças, sem fechadura, apenas uma laje puxada para trás para revelar um buraco não maior que um caixão. A escuridão subia, quente e úmida, e dela vinha o som que a assombraria para sempre: um choro fraco, tênue, que não era dela.
Ela acendeu uma vela no altar e desceu para o vazio. A escada era de pedra, escorregadia por causa do musgo. Cada passo ecoava como se a própria terra recuasse. O túnel abaixo era estreito. As paredes eram tão justas que se podia sentir a respiração em ambos os lados. As raízes serpenteavam pelo teto como veias negras. A água pingava. Quanto mais ela caminhava, mais alto o som ficava. Não era um choro agora, mas um murmúrio. Semelhante a orações, mas erradas. Sílabas repetidas sem significado. Um cântico que ensinava não a adorar, mas a esquecer.
Ela emergiu em uma câmara baixa escavada na rocha. O ar cheirava a cobre e mofo, e encostada na parede oposta, havia uma mesa de pedra manchada de escuro com uma substância que nem água benta conseguia purificar. Correntes pendiam do teto, enferrujadas e imóveis. No chão, flores secas. Retalhos de linho, uma pequena boneca de madeira sem um olho. Ellen cambaleou para trás, com a mão sobre a boca. Na parede oposta, gravadas em alto relevo, havia marcas de contagem. Dezenas. Centenas. Cada arranhão, uma vida, um grito, um silêncio. Ela encontrou uma mochila. Dentro dela, mais diários. Todas as caligrafias eram diferentes. A mesma história. Não bruxas, não tentadoras: vítimas. Cada uma delas marcada pela igreja. Cada uma delas apagada pelos homens que as usaram e pelas mulheres que enterraram suas vozes sob votos sagrados.
Ellen caiu no chão, tremendo. O rosário repousava em seu colo, as estranhas runas brilhando à luz bruxuleante da vela. Um ruído a fez sentar-se bruscamente. Passos. Alguém lá em cima. Ela se levantou, segurando o diário com força, a respiração superficial. O som foi diminuindo. Talvez uma irmã. Talvez não. Ela voltou-se para a parede e viu um nome gravado ali em letras mais profundas, esculpidas com mais cuidado do que os outros: Ellen. Fresco. Uma vela tremeluzia atrás dela. O choro cessou, mas não era a vela dela. E o silêncio que se seguiu não era vazio.