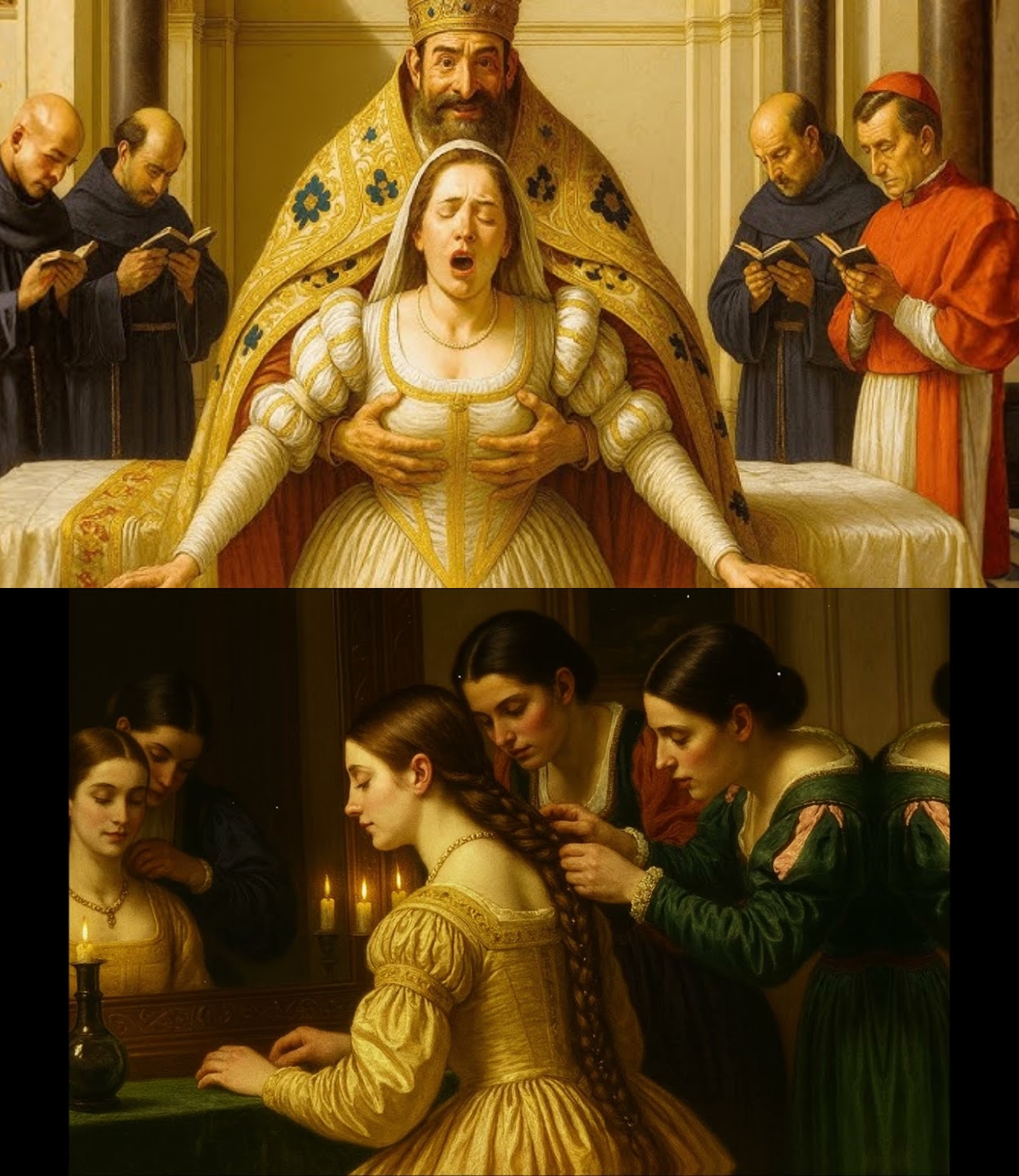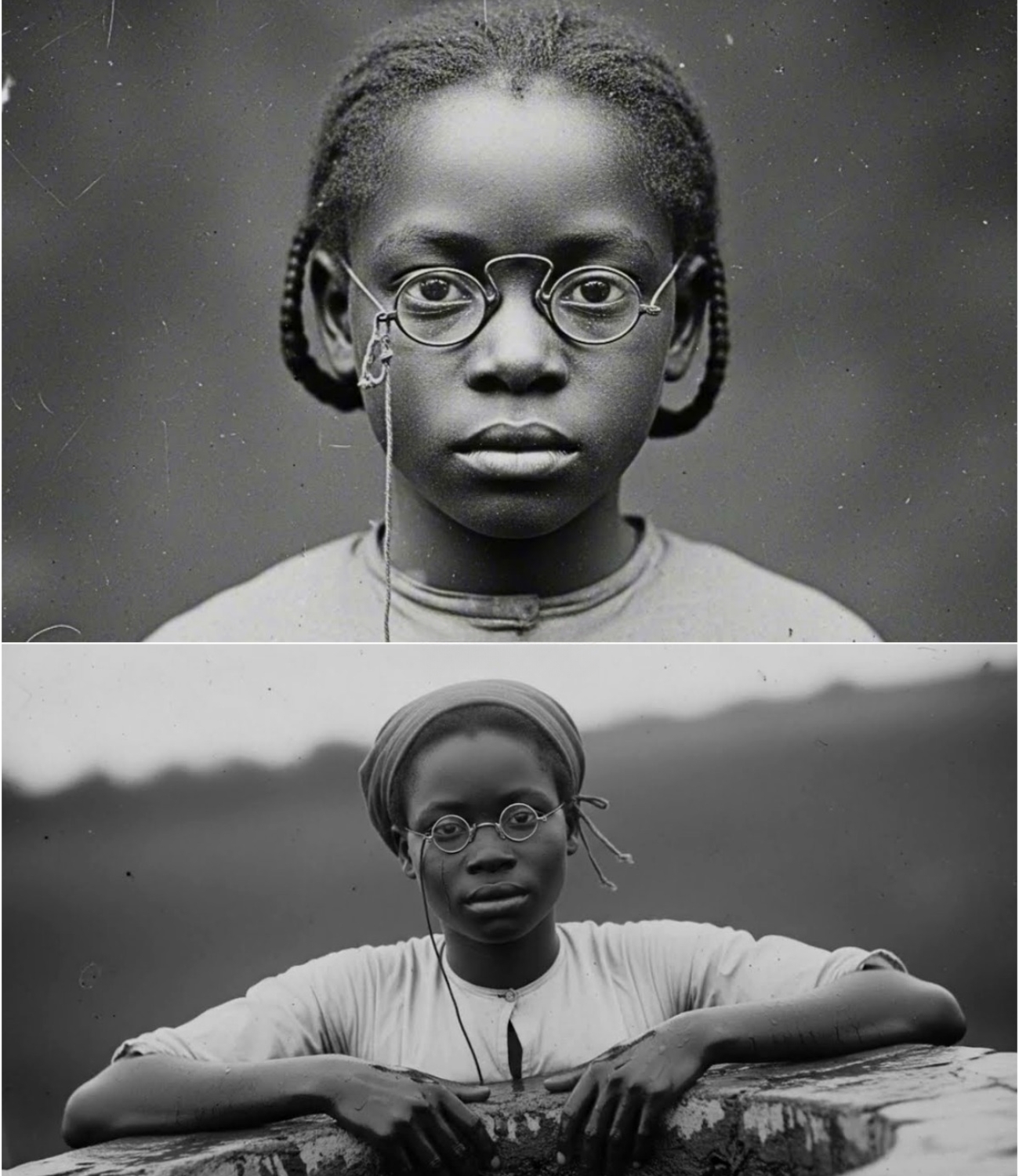A irmãzinha dela pediu-me ajuda… depois sentou-se no meu colo e disse: “Primeiro esta parte”.

Ainda me lembro do som daquele sino sobre a porta da livraria, aquele tipo de som que toca alto demais para uma manhã tranquila. Eu estava guardando uma pilha de livros de bolso usados quando o aparelho tocou, e a voz dela veio em seguida. Constante, suave, com aquele tipo de calor que faz você olhar para cima sem nem perceber o porquê.
“Com licença”, disse ela. “Você sabe alguma coisa sobre máquinas de escrever antigas?”
Essa foi a primeira vez que a vi, Clara. Por volta dos 45 anos, talvez. Uma camisa de linho, com as mangas arregaçadas, e uma leve mancha de tinta no pulso. Ela não parecia ser alguém que pedia ajuda com frequência. O tipo de mulher que consertava as próprias coisas até não conseguir mais. Sua irmã entrou logo atrás, talvez com pouco mais de 20 anos, cheia de movimento e tagarelice. Ela largou a bolsa no balcão, rindo. “Ele saberá. Ele parece ser o tipo de cara que coleciona coisas estranhas.”
Apesar de minhas orelhas estarem ardendo, eu dei risada. Eles encontraram uma velha Remington no sótão do pai falecido. Clara disse que sua irmã queria consertá-la por questões estéticas, enquanto Clara só queria vê-lo digitar mais uma letra. Algo naquela história dela dizendo “mais uma” ficou na minha cabeça. Quando a trouxeram, a coisa parecia ter sobrevivido a uma guerra. Poeira em cada tecla. Puxei um banquinho para trás do balcão e comecei a mexer em alguma coisa enquanto eles ficavam por perto.
Sua irmã se aproximou, tentando ver o que eu estava fazendo. “Primeiro esta parte”, disse ela em tom de brincadeira, apontando para o braço da carruagem. Então, sem querer, ela se sentou na beirada da minha cadeira, mais por empolgação do que por qualquer outra coisa. Por meio segundo, foi constrangedor, muito perto, o cabelo dela roçando meu ombro. Ela riu, envergonhada, e levantou-se tão depressa que quase derrubou uma pilha de livros. Clara apenas suspirou, não irritada, apenas discretamente divertida. “Você nunca aprendeu a ter paciência”, disse ela à irmã. “O tipo de brincadeira que carrega anos de história.”
Então nossos olhares se encontraram por um instante longo demais, e algo brilhou ali. Não exatamente ciúme, mais curiosidade. O restante do reparo foi feito em fragmentos. Estalos metálicos, nuvens de poeira flutuando na luz da manhã. Enquanto eu tentava fazer a fita se mover novamente, a irmã dela mexia no celular. Clara permaneceu em silêncio, de braços cruzados, observando. De vez em quando, ela fazia perguntas simples sobre o mecanismo, a tinta, a idade. Mas, no fundo, eu percebia que ela não estava perguntando sobre a máquina.
Quando finalmente consegui fazer as barras de texto se moverem livremente, fiz um gesto para que Clara tentasse. Ela hesitou antes de pressionar uma tecla, com o toque mais suave, como se temesse que o objeto pudesse quebrar sob suas mãos. A letra H impressa levemente na página amarelada. Ela esboçou um sorriso discreto e olhou para mim como se eu tivesse feito algo importante. Sua irmã bateu palmas e chamou aquilo de mágico, mas Clara apenas assentiu em silêncio novamente. Ela me agradeceu, em um tom de voz quase inaudível, e disse que eles voltariam assim que encontrassem uma nova fita.
Eles partiram juntos, o sino tocando novamente, o ar voltando à quietude. Eu me vi encarando o espaço vazio onde eles haviam estado. A cadeira ainda conservava um leve calor, e sobre o balcão, Clara deixara um de seus anéis, de prata, fino, esquecido, ao lado de uma pilha de recibos. Virei-a na palma da minha mão, apenas uma faixa simples, sem gravação, e de alguma forma, pelo resto do dia, não consegui parar de ouvir a voz dela, aquele tom baixo e firme, dizendo: “Você sabe alguma coisa sobre máquinas de escrever antigas?”
Ela voltou três dias depois, segurando a caixa como se fosse se desfazer em suas mãos. A campainha sobre a porta tocou aquele mesmo som alegre. Barulhento demais para uma tarde tranquila. “Encontrei a fita”, disse ela. “Pensei em tentar a minha sorte novamente.” Desta vez, a irmã dela não estava com ela. O cabelo de Clara estava agora preso, e havia olheiras suaves sob seus olhos. Não é por causa da maquiagem, mas sim por aquele tipo de cansaço que não passa facilmente com o sono. Ela parecia diferente sozinha, menos serena, talvez. Ou talvez apenas mais real.
Liberei um espaço na bancada. “Você está levando isso muito a sério.” “Acho que sim.” Ela deu um leve sorriso. “É estranho como algo quebrado faz você se importar mais do que esperava.” Não tinha certeza se ela se referia à máquina de escrever. Enquanto eu passava a fita nova pela linha, ela se encostou em uma prateleira próxima, folheando um livro antigo de poesia. Eu conseguia ouvir o papel sussurrando entre seus dedos, o leve clique do seu anel contra a página. Ela leu uma frase em voz alta, baixinho, sem perceber que eu estava ouvindo. Algo sobre cartas nunca enviadas.
Quando ela percebeu que eu estava olhando, fechou o livro rápido demais. “Às vezes eu falava sozinha”, disse ela, meio envergonhada. “Sim, eu também”, eu disse. “Ajuda as engrenagens a girarem.” Isso me rendeu uma risada discreta. Um som curto, mas que se fez ouvir. Foi então que percebi que estava esperando que ela risse. Trabalhamos lado a lado por um tempo. Expliquei como a fita se enrolava e como evitar que as teclas emperrassem. Ela assentiu com a cabeça, séria, de vez em quando mordendo o lábio enquanto tentava acompanhar o que eu estava dizendo. Eu gostava da maneira como ela fazia perguntas, precisa, curiosa, sem palavras desperdiçadas, mas de vez em quando ela se perdia em pensamentos, como se sua mente estivesse em outro lugar completamente diferente.
“Desculpe”, disse ela uma vez, corrigindo-se. “Você estava falando sobre a alavanca de escape”, eu disse. “Está tudo bem. Você desviou o olhar por um instante.” Ela olhou para a máquina, os dedos percorrendo o metal frio. “Eu estava”, murmurou ela. “Velhos hábitos.” Houve uma pausa, uma longa pausa. Apenas o zumbido do ventilador de teto preenchia o ambiente. Quando finalmente falou novamente, seu tom de voz suavizou. “É estranho, não é? Como é possível sentir falta de alguém de quem você nem gostava muito?”
Não sabia o que responder, então apenas acenei com a cabeça. Às vezes, o silêncio é mais seguro do que respostas. Ela respirou fundo, como se tivesse percebido que havia falado demais, e endireitou-se. “Enfim, como está indo?” Pressionei uma tecla para testar a fita, e o “e” ficou nítido e escuro. “Parece estar vivo novamente.” Algo aconteceu entre nós naquele momento. Não exatamente um sorriso, nem exatamente gratidão. Apenas um lampejo de algo que ela não quis nomear.
Ela guardou a máquina de escrever com cuidado, agradeceu-me novamente e pegou na bolsa. Sua mão roçou a minha, de leve, mas o suficiente para fazê-la parar por um instante. Nós dois congelamos, nossos olhares se encontrando naquele meio segundo de hesitação. Então ela se afastou primeiro. O sino tocou quando ela saiu, mas o som pareceu diferente desta vez, mais agudo, mais fino, como se o momento tivesse se prolongado demais antes de retornar abruptamente.
Eu a observei atravessar a rua pela janela, o vento agitando seus cabelos, a luz do sol refletindo no anel de prata que ela havia pegado no balcão. E por razões que ainda não consigo explicar, me vi sorrindo discretamente, de forma boba, como se tivesse acabado de receber um segredo que não deveria ter ouvido.
A chuva começou por volta das 6, constante, fina no início, e depois mais forte. Aquele tipo de ar que faz vibrar. Eu estava fechando a loja quando ela apareceu novamente na porta, com o guarda-chuva pingando e a caixa da máquina de escrever na mão. “Desculpe”, disse ela, com a respiração irregular. “Acho que emperrou de novo. Eu estava perto.” Ela não estava perto. O ponto de ônibus mais próximo ficava a 10 minutos, mas eu não disse isso. “Entra”, eu disse a ela. “Você vai se molhar.”
As luzes lá dentro estavam meio apagadas. O lugar parecia diferente à noite. Mais suave, mais silencioso, o ar pesado com o cheiro de papel e chuva. Ela abriu o guarda-chuva, espalhando água pelo chão, e colocou a caixa no balcão. “Posso ficar um minuto?”, perguntou. “Até parar.” “Claro.” Ela se sentou no banquinho enquanto eu verificava a máquina. Seu cabelo grudava no pescoço, úmido da caminhada. Tentei não olhar por muito tempo. “É a barra de espaço”, eu disse depois de um tempo. “Você provavelmente apertou com muita força.” Ela deu um leve sorriso. “A história da minha vida.”
Eu ri, embora não parecesse minha risada. Algo sobre ela estar ali depois do expediente fazia o cômodo parecer menor. O ventilador de teto girava preguiçosamente acima de nós, a chuva preenchendo o silêncio entre as palavras. “Você escreve?”, ela perguntou de repente. “Não muito”, respondi. “Eu começo coisas e não termino.” Ela inclinou a cabeça. “Você parece uma escritora.” “Por quê?” “Porque você repara nas pessoas.” Eu não sabia o que fazer com isso. Senti meu peito apertar, não de uma forma desagradável. Eu queria perguntar o que ela tinha notado em mim, mas a pergunta ficou presa na minha garganta.
Em vez disso, eu disse: “Você parece alguém que costumava…” Ela piscou. “Costumava o quê?” “Certo.” Seus lábios se entreabriram. Não um sorriso, nem surpresa, algo mais. Então ela olhou para baixo, traçando as teclas da máquina de escrever com a ponta dos dedos. “Eu fazia isso há muito tempo, antes de tudo ficar complicado.” O trovão ribombava lá fora. Daquele tipo que parece perto, mas não chega a atingir. Ela manteve a mão sobre as teclas, imóvel agora. “É estranho”, disse ela baixinho. “Às vezes penso em quanto da minha vida eu vivi tentando não ser notada.”
Eu a olhei. Olhei de verdade. Havia um tremor em sua voz. Não fraqueza, mais como um cansaço que não tinha para onde ir. “Você não é invisível”, eu disse antes que pudesse parar. “Eu mesma.” Ela riu uma vez, um riso frágil, surpreso. “Cuidado”, disse ela. “Você vai arruinar minha reputação.” Sorri, mas o ar entre nós parecia mais pesado do que antes. Ela ainda me observava, com os olhos indecifráveis. Por um instante, pensei que ela pudesse dizer algo concreto, algo que mudaria a atmosfera do ambiente.
Mas então o celular dela vibrou no balcão. Ela se assustou, olhou para a tela e virou o aparelho com a tela para baixo. Uma pausa longa demais para ser ignorada. “Tudo bem?”, perguntei. “Só barulho de sempre”, disse ela, balançando a cabeça. “Alguém que ainda acha que tem voz.” As palavras pairaram no ar, suaves, mas cortantes. Ela pegou a bolsa como se a conversa tivesse chegado ao fim. “Devo ir antes que pare de chover”, disse ela. “É mais fácil andar no meio do barulho.” Assenti, embora cada parte de mim quisesse que ela ficasse. Ela foi até a porta, parou por um segundo e depois voltou. “Você é gentil”, disse ela. “Isso não é pouca coisa.” E então ela se foi, o guarda-chuva se abrindo contra o vento, a campainha tocando uma última vez, cansada.
Por um momento, pensei em correr atrás dela, dizer alguma coisa, qualquer coisa. Mas não fiz nada. Apenas fiquei ali parada, observando a chuva borrar sua silhueta na escuridão. Suas palavras ainda pairavam no espaço que ela deixara para trás. Faziam duas semanas desde a tempestade. Duas semanas desde que o som da sua voz se insinuara em cada momento de silêncio dos meus dias. Ela não tinha aparecido. Eu me convenci de que estava tudo bem. Que talvez ela tivesse encontrado alguém para consertar a máquina de escrever. Que talvez ela não precisasse de mais um motivo para ficar naquela livraria empoeirada. Mas toda vez que a campainha da porta tocava, eu ainda olhava para cima.
Então, uma noite, ela apareceu. Sem guarda-chuva dessa vez. Apenas a mesma camisa de linho, cabelo solto, olhos cansados. Foi assim que me lembrei. Ela não se deu ao trabalho de sorrir. “Vocês estão fechando?”, perguntou. “Ainda não.” “Ótimo.” Ela não trouxe a máquina de escrever. Apenas ela mesma. Foi assim que eu soube que algo estava diferente. Ficamos um tempo sem conversar. Ela ficou perto da seção de filosofia, fingindo ler, e eu fingi limpar o balcão. O ar entre nós estava pesado. Não exatamente tensão, mas algo que vibrava, algo não dito e à espera.
Finalmente, ela se virou, com a voz baixa. “Você não perguntou por que parei de vir.” Encontrei seu olhar. “Imaginei que você me diria se quisesse.” Sua boca se curvou num sorriso. Não um sorriso, mais como um reconhecimento. “Você é boa demais para o seu próprio bem.” “Acho que não é verdade.” “Então o que você é?”, ela perguntou. “Para mim, quero dizer, fico pensando que deveria parar de vir aqui. Que não é justo.” “Para quem?”, perguntei baixinho. Ela não respondeu. Caminhou mais perto, parando a poucos passos de distância.
O espaço parecia incrivelmente pequeno. “Você é jovem”, disse ela finalmente, balançando a cabeça. “Você não sabe o que as pessoas vão dizer.” “As pessoas não sabem de nada.” “Esse é o problema”, disse ela, quase rindo. “Elas não precisam saber.” Suas mãos tremiam e ela as escondeu cruzando os braços. Eu podia vê-la lutando consigo mesma. Cada palavra cuidadosa, ensaiada, falhando. “Enfim, digo a mim mesmo: ‘Isto é nada'”, disse ela. “Um lugar pequeno, boa companhia, conversa inofensiva. Mas então eu saio e não consigo me livrar disso. Penso em como é silencioso aqui. Como você me olha como se eu ainda fosse alguém.”
Sua voz falhou na última palavra. Não alta, apenas o suficiente para cortar o ar. “Não sei o que fazer com isso”, disse ela. Eu queria responder algo, algo firme, algo que aliviasse a dor em sua voz. Mas tudo o que consegui foi o nome dela. Apenas o nome dela, pequeno e inútil no espaço entre nós. Ela soltou um suspiro que soou como rendição. “O que estamos fazendo?”, sussurrou. O silêncio que se seguiu foi insuportável, pesado demais, cortante demais. Eu podia ouvir o relógio na parede ticando, o som da calha lá fora pingando constante como uma pulsação.
Dei um pequeno passo em sua direção, não o suficiente para tocá-la, apenas o suficiente para que ela pudesse sentir o calor de outra pessoa ali. Seus olhos encontraram os meus, vidrados, cansados, inquisitivos. Por um segundo, ela pareceu que ia se inclinar para frente, mas depois não o fez. Em vez disso, ela disse suavemente: “Você me lembra a pessoa de quem eu prometi a mim mesma que nunca precisaria.” E com isso, ela se virou, lenta e deliberadamente, como quem atravessa algo pesado, deixando apenas o eco daquela frase no silêncio do quarto.
Uma semana se passou antes que eu a visse novamente. Tempo suficiente para que eu começasse a me convencer de que ela não voltaria. Então, numa tarde cinzenta, ela entrou. Sem aviso, sem cumprimento, segurando um pequeno envelope. “Pensei que você soubesse o que fazer com isso”, disse ela. Sua voz era calma, mas seus olhos pareciam inquietos. O envelope estava amassado, de tanto ser manuseado. Peguei-o delicadamente, virando-o nas mãos. O papel tinha um leve cheiro de poeira e perfume. Não havia nome, apenas uma leve mancha de tinta azul onde um nome havia sido apagado.
“O que é isso?”, perguntei. “Uma carta que encontrei dentro da máquina de escrever”, disse ela. “Acho que meu pai a escreveu. Talvez para minha mãe ou para outra pessoa completamente diferente. Ele nunca enviou.” Ela se sentou, o banquinho arrastando suavemente no chão. “Pensei em ler. Depois pensei: ‘Talvez eu não devesse’.” Esperei, deixando o silêncio se instalar. “Você leria?”, ela perguntou. “Quer dizer, não consigo decidir se quero saber.” Seus olhos se voltaram para mim, cansados, esperançosos.
Abri o envelope lentamente. A caligrafia era fina, cuidadosa, inclinada para a frente como se tentasse alcançar alguém a quem não devia. “Clara”, começava. Congelei. “É endereçado a você”, eu disse baixinho. Sua respiração falhou, mas ela não se moveu. Virei o papel para que ela pudesse ver seu nome ali, em tinta azul. Ela se inclinou para mais perto, as mãos tremendo levemente. “Ele deve ter escrito isso anos atrás”, ela sussurrou. “Antes dele…” Ela se conteve antes que tudo desmoronasse. Não li o resto em voz alta, apenas entreguei a ela, observando seus olhos percorrerem as palavras.
Ela sorriu uma vez, depois mordeu o lábio. E eu sabia que o que quer que estivesse escrito ali não era fácil. Quando terminou, dobrou a carta cuidadosamente e a colocou de volta no envelope. “Ele escreveu sobre arrependimento”, ela disse. “Disse que sentia muito por não ser o tipo de pai que sabia ouvir. Disse que esperava que um dia eu encontrasse alguém que soubesse.” Ela me olhou por tanto tempo que deixou de parecer um olhar e passou a parecer uma lembrança. “É por isso que isso parece errado”, disse ela suavemente. “Porque talvez ele estivesse certo. E eu odeio isso.”
Suas palavras afundaram no quarto como poeira. Ela não chorou, não se assustou, apenas exalou longa e trêmula como se tivesse guardado aquela carta no peito a vida inteira. “Eu não sei o que dizer.” “Admito que você não precisa.” Ela sorriu levemente, com os olhos desfocados. “Você já está dizendo isso.” A chuva recomeçou lá fora. Não forte, apenas constante, batendo na janela como um metrônomo. Por enquanto. Ela se levantou, alisou o casaco e pegou o envelope. “Acho que vim aqui para me lembrar de algo”, disse ela. “Só não esperava que se lembrasse de mim também.”
Quando ela se virou para sair, estendi a mão instintivamente, não para impedi-la, apenas para estabilizar o ar entre nós. “Clara”, eu disse. Ela parou, esperando. “Com o que terminava a carta?”, perguntei. Ela olhou para o envelope, os dedos roçando a aba. Então ela sussurrou quase para si mesma: “Ele disse: ‘Se alguém olhar para você e ouvir ao mesmo tempo, não fuja’.” Ela olhou para cima mais uma vez, meio sorrindo, meio desabando. “Eu queria que ele não tivesse escrito isso”, disse ela, “porque agora não consigo parar de ouvir.”
Os dias se confundiram depois disso. Continuei abrindo a loja. Mesmo horário todas as manhãs, o mesmo zumbido silencioso de poeira e papel. Mas agora parecia uma espera. Não exatamente por ela, mas pelo momento em que ela finalmente poderia parar de fingir que não voltaria. Quando voltou, já estava quase fechando de novo. O crepúsculo vazando pelas persianas, os postes de luz da rua se iluminando. Ela não carregava nenhum envelope, nenhuma máquina de escrever, apenas a si mesma. Calma, mas frágil nas bordas.
“Você ainda abre?”, perguntou ela. “Para você?” “Sim.” Ela deu um sorriso cansado, entrou e trancou a porta atrás de si. Um pequeno som, aquele clique, e o mundo exterior permaneceu onde deveria estar. Por um tempo, não conversamos. Ela vagou pelos corredores, as pontas dos dedos roçando as lombadas de livros antigos. Percebi que ela não estava lendo os títulos, apenas se conectando com a realidade. O ar estava pesado, mas não desconfortável, como se ambos soubéssemos que as palavras já haviam sido ditas em algum lugar entre o silêncio.
Finalmente, ela veio até o balcão, apoiou-se nele e disse: “Reli a carta.” Assenti. “Sim, acho que entendi agora.” Ela olhou para mim, com os olhos suaves. “Ele não estava pedindo perdão. Estava me alertando para não construir muros tão altos que ninguém pudesse ver através deles.” Esperei. “E agora”, ela disse baixinho, “não sei como desconstruí-los sem perder as peças que me mantinham segura.” Ela disse isso sem desviar o olhar. Isso era novo. Sem evasivas, sem meio sorriso para me esconder. Apenas a verdade.
Contornei o balcão devagar o suficiente para que ela pudesse me impedir se quisesse. Ela não impediu. Ficamos ali, não perto o suficiente para nos tocarmos, mas perto o suficiente para que eu pudesse ver o leve tremor em sua respiração. “Você não precisa perdê-los”, eu disse. “Você só não precisa mais se esconder atrás deles.” Seus olhos tiveram um lampejo de surpresa, talvez gratidão. Talvez algo mais difícil de nomear. “Você faz parecer simples.” “Não é”, eu disse. “Mas fingir também não é.”
Ficamos assim por um longo tempo. A rua lá fora estava vazia. A chuva recomeçava. Um ritmo suave e constante contra o vidro, o tipo de som que preenche o silêncio sem apagá-lo. Finalmente, ela se sentou no banco perto do balcão. Eu fiquei de pé ao lado dela. Não nos olhamos, mas o ar parecia estável agora, como se algo finalmente tivesse se acalmado. “Fiquei esperando que isso desse errado”, disse ela, a voz quase um sussurro. “Que eu dissesse a coisa errada ou que você visse a versão errada de mim.”
“Eu já a vi”, eu disse. “Você ainda está aqui.” Isso a fez rir. Uma risada pequena, silenciosa, real. Ela olhou para cima e eu vi o reflexo da chuva em seus olhos, minúsculo e oscilante. Então, sem dizer nada, ela estendeu a mão. Sua mão encontrou a minha, apenas repousou ali, os dedos mal se tocando. Sem puxão, sem tensão, apenas quietude. Um simples reconhecimento de que tudo já havia sido dito. A chuva suavizou-se, o relógio tiquetaqueou uma vez, e ela sussurrou, não como uma confissão, mas como um fato: “Não sei o que acontece depois.”
Apertei sua mão uma vez, o suficiente. “Nem eu”, respondi. “Mas acho que é essa a questão.” Ela sorriu então, um sorriso fraco, cansado, vulnerável, e ficamos assim. Duas pessoas no pequeno e silencioso espaço de uma livraria fechando, o tipo de silêncio que finalmente significava paz.
Já se passaram meses. A livraria ainda cheira a papel e chuva. Mas o silêncio não pesa mais. É apenas silêncio, o tipo de silêncio que permite pensar sem transformar pensamentos em fantasmas. Ela ainda aparece às vezes, não com frequência e nunca com a máquina de escrever, apenas para tomar um café ou pegar um livro que jura que não vai terminar, ou para deixar algo pequeno: uma fita, uma foto, uma pergunta que não precisa de resposta. Conversamos às vezes; em outros dias apenas compartilhamos o espaço.
As pessoas pensam que a conexão vem do que você diz. Mas aprendi que é o oposto. É o que você não diz que constrói a ponte. Frases incompletas, as pausas, as coisas que ambos entendemos sem provas. É isso que permanece. Ela me disse uma vez, não faz muito tempo: “Você mudou a forma como me lembro dele.” Eu não perguntei como. Apenas assenti, porque acho que foi nisso que tudo se transformou. Não uma história sobre nós, mas sobre o que consertamos um no outro sem perceber.
E em mim também. Parei de esperar que as coisas se declarassem. Nem tudo que vale a pena guardar precisa de um nome. Alguns sentimentos só precisam de tempo e um lugar para ficar em silêncio até que parem de pedir explicações. O engraçado é que o amor, seja lá qual for o tipo que encontramos, não chegou como uma faísca. Aconteceu como o crepúsculo se transforma esta noite. Você olha para cima num instante e percebe que ele já está lá. Suave, envolvente, sem pedir nada.
Ainda me lembro daquele primeiro dia. A campainha acima da porta, a voz dela perguntando se eu sabia alguma coisa sobre máquinas de escrever antigas. Eu não sabia muito naquela época. Sei um pouco mais agora sobre engrenagens, sobre sincronização, sobre como as coisas emperram facilmente quando você as força. Às vezes, quando as lojas esvaziam, eu tiro aquela velha Remington do armário. A fita ainda borra. Tinta em linhas irregulares. Digito algumas palavras, a maioria sem sentido, só para ouvir o ritmo.
Há uma tecla que sempre trava, o H, e toda vez que isso acontece, penso no sorriso dela na primeira vez que funcionou de novo. Ela me contou que guarda a carta do pai na mesa de cabeceira. Disse que a lembra de não fugir de ser vista. Acho que foi isso que nós duas aprendemos: que ser vista não é o mesmo que ser exposta. É ser conhecida sem precisar se defender. Essa é a questão das conexões lentas. Elas não se extinguem. Zumbindo baixinho ao fundo, como o som da chuva no vidro, ainda lá mesmo quando você para de prestar atenção. Não sei se isso era amor. Talvez fosse algo mais silencioso, algo mais constante, mas importava. E às vezes isso basta.