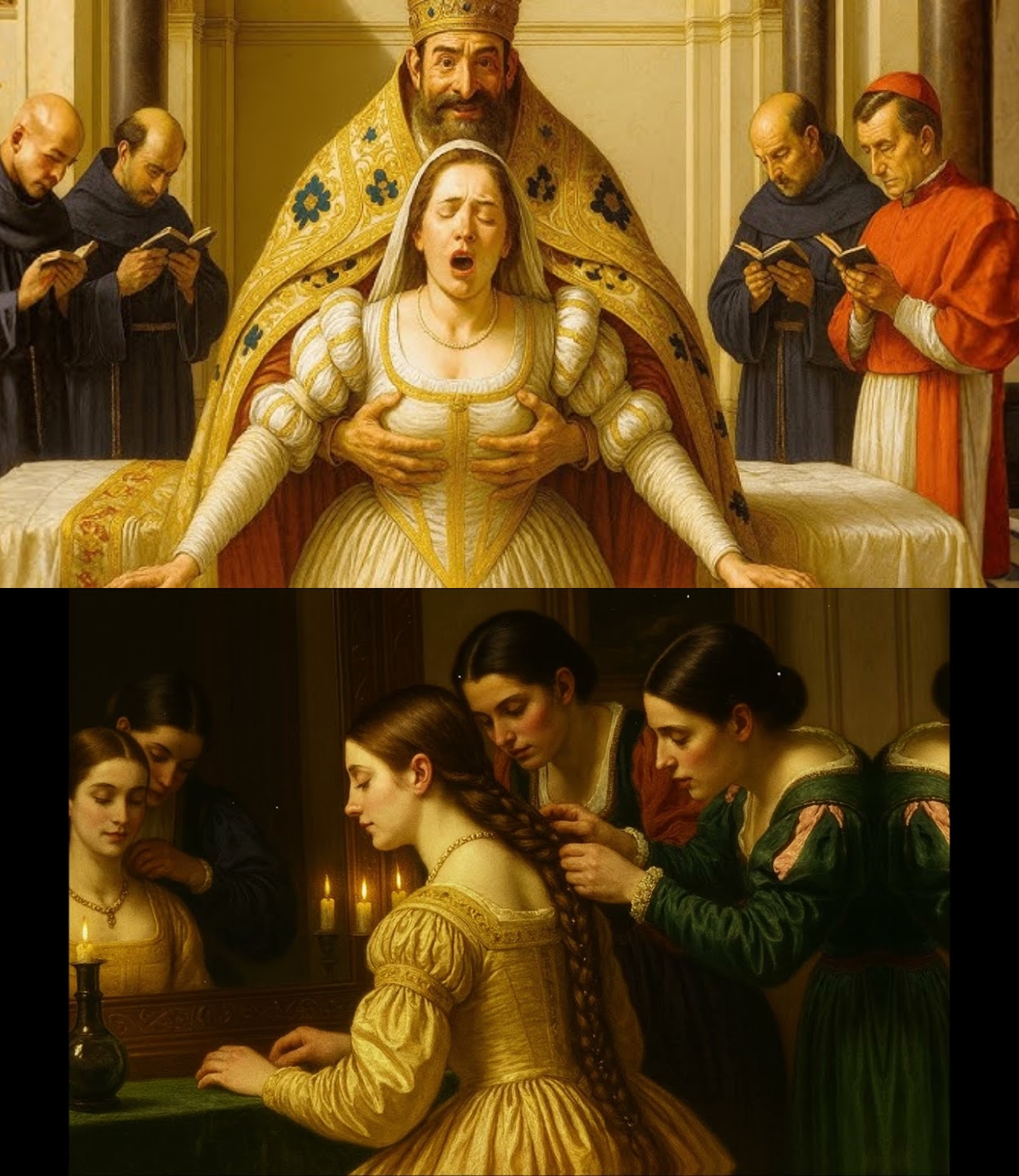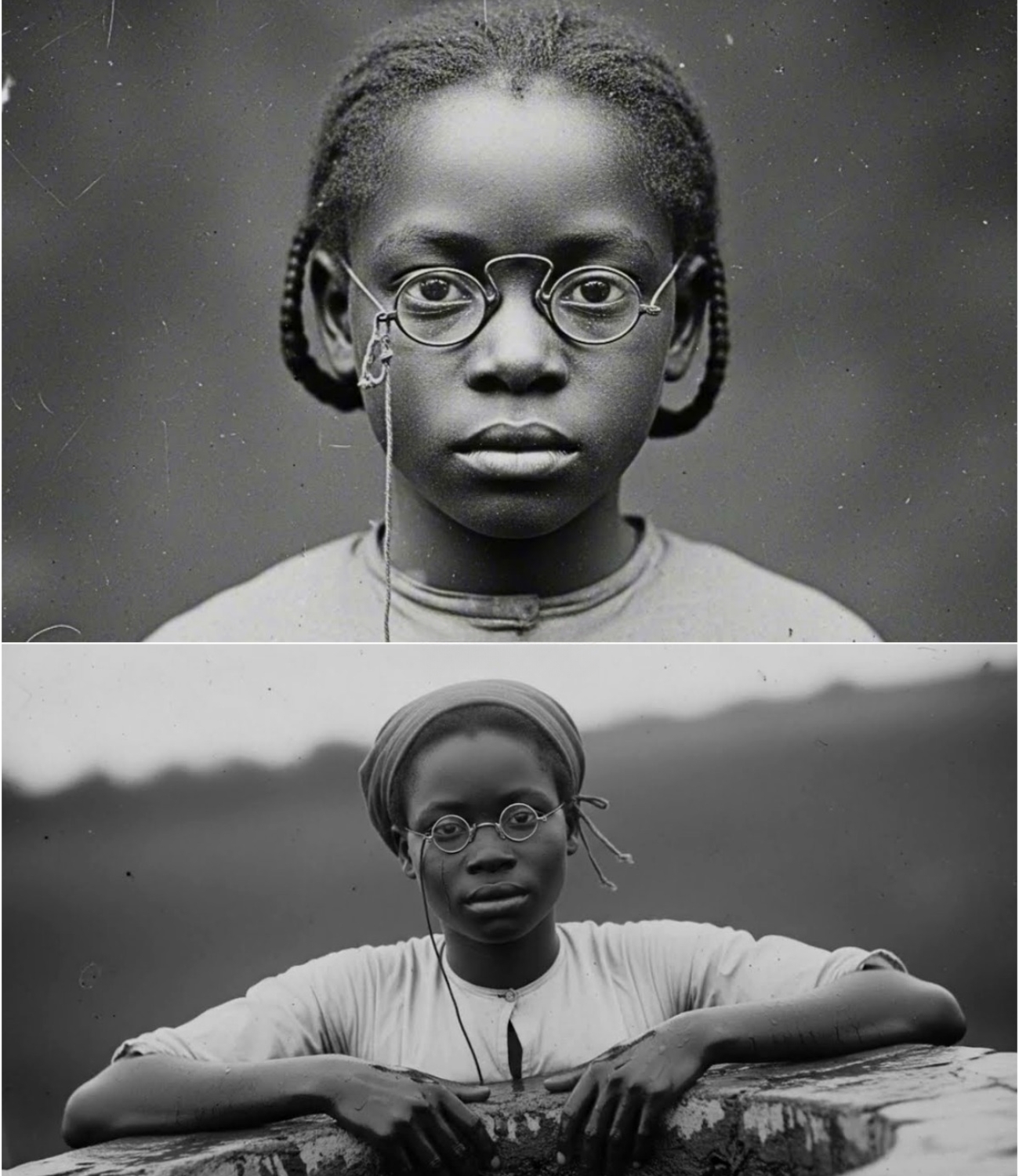A guerra estava chegando ao fim, mas ninguém ousava acreditar. Esperavam resistência, franco-atiradores, minas, algumas últimas batalhas desesperadas. Mas o que descobriram naquela manhã foi algo para o qual nenhum deles poderia ter se preparado. Na orla de um pomar devastado, viram movimento, sombras se movendo atrás de um muro semi-desmoronado. O sargento Thomas Weller ergueu a mão para silenciar a ordem. O esquadrão se posicionou, armas em punho. Uma rajada de vento trouxe o som fraco de vozes alemãs, agudas e incertas. Weller franziu a testa. “Eles não são homens”, murmurou enquanto os americanos se aproximavam.

A verdade ficou clara: os soldados inimigos amontoados na trincheira eram crianças de cerca de quinze anos, algumas até mais novas. Seus uniformes eram vários tamanhos maiores, as mangas arregaçadas, os capacetes escorregando sobre os olhos. Alguns ainda usavam braçadeiras da Juventude Hitlerista costuradas nas mangas. Seus fuzis tremiam em suas mãos. Os lábios de um dos meninos estavam azulados de frio. O soldado Jenkins murmurou: “Você está brincando!”. Mas não era brincadeira. Durante os últimos meses da guerra, o regime nazista esvaziou as escolas e organizações juvenis, recrutando à força meninos para a Volkssturm.
O chamado Exército Popular… Os adultos haviam desaparecido, mortos, capturados ou entrincheirados em Berlim. Restavam apenas crianças aterrorizadas, ordenadas a lutar até o último suspiro. Os americanos permaneciam paralisados, divididos entre o instinto e a descrença. Os meninos os encaravam, com os olhos arregalados de terror. Por um longo momento, ninguém se moveu; apenas o vento uivava pelas chaminés destruídas. Então, um pequeno ruído quebrou o silêncio: um Panzerfaust jazia na lama. O menino que o segurava não devia ter mais de quatorze anos. Suas mãos tremiam enquanto ele o erguia acima da cabeça. “Nick Sheeson!”, gritou ele.
“Não atirem!” Um, depois outro. Logo, todos os garotos na trincheira haviam largado suas armas. O sargento Weller baixou lentamente o seu fuzil. “Cessar fogo”, disse ele com uma voz calma, porém grave. “São apenas crianças.” O pelotão avançou cautelosamente. Os garotos tremiam tanto que alguns não conseguiam ficar de pé. Um deles tinha lágrimas congeladas no rosto. Suas botas estavam gastas até a sola, com os dedos dos pés para fora. O mais novo segurava uma fotografia de uma mulher com um bebê: talvez sua mãe e irmã. O cabo Hayes ajoelhou-se ao lado de um deles e falou baixinho através de um intérprete: “Acabou. Vocês estão seguros agora.”
O garoto não respondeu; apenas encarou o cantil do cabo. Seus lábios rachados e ressecados, como se estivessem embaçados pela neblina, o seguravam sem dizer uma palavra. O garoto bebeu avidamente, a água escorrendo pelo queixo. Os americanos haviam lutado bravamente por toda a Europa; tinham visto horrores: campos de concentração, cidades bombardeadas, civis fugindo em carroças. Mas isto era diferente. Era algo mais profundo. Não era um inimigo que enfrentavam, era o reflexo despedaçado da própria guerra. Um médico examinou um dos garotos: seus dedos estavam rígidos e pálidos, frieiras. Outro tinha a perna enfaixada, meio necrosada por causa de uma infecção. Mesmo assim, nenhum deles reclamou.
Eles ficaram ali, em silêncio, aguardando o castigo que pressentiam. Um dos soldados murmurou: “Em casa, meu irmãozinho tem essa idade.” Ninguém respondeu. Quando a patrulha se reagrupou, o Sargento Weller deu a ordem: “Levem-nos para a retaguarda, deem-lhes de comer e chamem o médico.” Não houve protestos, nem risos, apenas o som abafado das botas na lama. Os garotos capturados seguiram, com os ombros caídos, as armas abandonadas na poeira. Caminharam pela vila devastada. Um corvo sobrevoou o local, grasnando no céu cinzento.
Os americanos sentiram a guerra mudar, não pelo som dos tiros, mas por aquele silêncio estranho e opressivo. A frente estava desmoronando. O inimigo não era mais a imagem monstruosa que lhes haviam ensinado a odiar, mas uma criança com as mãos trêmulas, aterrorizada pela morte. O soldado Jenkins olhou por cima do ombro e quase murmurou para si mesmo: “Eles nunca foram soldados”. A linha continuou avançando em direção ao ponto de reagrupamento temporário onde o resto da unidade aguardava. Um longo silêncio se instalou, mas não duraria, pois o que se seguiu desafiaria tudo o que os americanos pensavam saber sobre misericórdia.
A guerra e o que significa ser humano. Quando finalmente chegaram ao ponto de encontro, um celeiro semidestruído nos arredores de Remagen, a verdade sobre o que tinham visto começou a atingi-los em cheio. Os americanos já haviam capturado soldados alemães — homens endurecidos pela batalha, desesperados, furiosos, muitas vezes desafiadores. Mas esses garotos eram diferentes. Estavam sentados juntos em silêncio, amontoados em volta de um fogão improvisado que mal aquecia algo. Seus capacetes estavam no chão, revelando rostos que não deveriam estar em um campo de batalha.
Sujeira manchava suas bochechas, ainda marcadas pela infância. O cabelo de um dos meninos estava estranhamente arrepiado, comprimido sob um capacete grande demais. Outro tinha sardas, e seus olhos se moviam nervosamente a cada chute. O sargento Weller, encostado em um poste, os observava. “Meu Deus”, murmurou, “eles são apenas crianças.” O cabo Haze, agachado perto do fogão, abriu uma caixa de rações. Ele não falava alemão, mas seu tom era calmo, quase paternal. “Vocês estão com fome?”, perguntou, apontando para uma colher. O menino mais próximo hesitou, depois assentiu levemente. Os americanos…
Eles haviam sido treinados para ver o inimigo como uma ameaça anônima, composta de uniformes e armas, mas ver aqueles adolescentes trêmulos destruiu a ilusão. O medo em seus olhos era muito familiar; lembrava-lhes de seus próprios irmãos, filhos, vizinhos. O soldado Jenkins sussurrou para outro soldado: “Você acha que eles chegaram a disparar aquelas coisas?” Ele acenou com a cabeça para o Panzerführer, agora encolhido em frente à porta do celeiro. “Talvez uma vez”, respondeu ele, “ou talvez nunca.” Lá fora, o vento uivava pelas ruínas. A frente estava desmoronando rapidamente. Notícias do comando diziam que o Reich estava a poucos dias da derrota.
Mas isso não apagou o dano já causado. Esses garotos haviam sido criados com histórias de glória e sacrifício pela salvação da pátria. Disseram-lhes que os americanos eram monstros. Agora, sentados diante de soldados de verdade distribuindo comida, as mentiras começaram a ruir. Um dos garotos capturados, com apenas dezesseis anos, finalmente falou. Seu nome era Emil. Ele contou como havia sido membro da Juventude Hitlerista antes de ser enviado para a frente de batalha duas semanas antes. Sua voz era fraca, quase um pedido de desculpas. “Temos que lutar”, disseram eles, “se nos rendermos, teremos que lutar.”
“Os americanos vão nos matar”, disse o cabo Haze, encarando-o por um longo momento. “Temos cara de assassinos, filho?” Emil olhou para a caixa fumegante em suas mãos. “Não, não mais”, acrescentou outro garoto em voz baixa, mais velho, talvez com dezessete anos. “Eles nos disseram para mirar no coração para morrer antes de nos levarem.” Suas mãos tremiam. “Mas quando vocês chegaram, eu não consegui atirar. Pensei no meu irmãozinho.” Um silêncio sepulcral pairou sobre a sala. Até os americanos ficaram sem palavras. Eles não eram fanáticos; eram vítimas da propaganda desesperada de um sistema que havia sacrificado seus próprios filhos em nome do orgulho.
Muitos nem sequer tinham terminado a escola; alguns nunca tinham saído de suas cidades natais antes de serem recrutados à força para o exército. E, no entanto, lá estavam eles, vestidos com o mesmo uniforme daqueles que haviam incendiado cidades e enchido sepulturas. O sargento Weller finalmente quebrou o silêncio: “Vamos enviá-los para a retaguarda no próximo comboio. Certifiquem-se de que tenham cobertores.” Um médico passou e enfaixou as mãos cheias de bolhas de um garoto. Outro soldado distribuiu barras de chocolate de sua ração K. Os garotos olharam para os doces como se fossem contrabando. Emil deu uma pequena mordida, depois outra.
Lágrimas brotaram em seus olhos, apesar de seus esforços para escondê-las. “Você está bem, garoto?”, perguntou Haze suavemente. Emil assentiu, incapaz de responder. Ele não comia chocolate havia quase dois anos. Os americanos não insistiram no assunto; todos já tinham visto sofrimento suficiente para saber quando palavras eram desnecessárias. Mantiveram os meninos aquecidos, alimentados e quietos até o anoitecer. Quando as lanternas se apagaram, o Sargento Weller saiu. As estrelas acima da paisagem devastada estavam pálidas, encobertas pela fumaça que se dissipava. Em algum lugar a leste, a artilharia ainda rugia, mas ali pela primeira vez em meses.
Havia uma paz interior. Ele pensou em sua família no Kansas, em seu irmão de dezesseis anos que acabara de começar o ensino médio. O pensamento lhe embrulhou o estômago. Poderia ter sido ele, murmurou. A guerra havia obscurecido as fronteiras entre o bem e o mal, entre soldado e vítima. Disseram a esses garotos que lutavam por honra; na realidade, lutavam por homens que não se importavam com o destino deles. No fundo, os jovens prisioneiros começaram a cair num sono inquieto. O fogão crepitava suavemente. Um guarda americano vigiava a porta, com o rifle a tiracolo. Eles não eram mais inimigos; eram apenas crianças perdidas.
Eles tentavam sobreviver a uma guerra que não haviam escolhido, mas a noite ainda não havia terminado, e o que estava por vir testaria a misericórdia americana mais do que qualquer batalha. Ao amanhecer, uma névoa densa e pálida se abateu sobre o local, envolvendo as árvores carbonizadas e as cercas semi-desabadas. O celeiro permaneceu silencioso, exceto pelo crepitar do fogão e pela respiração constante dos meninos amontoados. Lá fora, o mundo cheirava a fumaça e lama derretida. O sargento Weller e seus homens haviam recebido ordens para transferir os prisioneiros para um ponto de encontro perto de Linz am Rhine, onde o comando superior decidiria seu destino.
Os rapazes permaneceram em silêncio enquanto os americanos os reuniam. Alguns ainda pareciam atordoados, outros aterrorizados. Emil apertou o capacete contra o peito como se o protegesse. Alguns dos mais jovens murmuravam orações. A estrada era longa, e o desconhecido os assustava mais do que a própria guerra. “Muito bem, mantenham-nos em duplas”, disse Weller. “Nada de brutalidade!” Ele não precisava explicar o porquê. Todos sabiam que aqueles não eram prisioneiros comuns. Conforme o comboio avançava, a luz da manhã revelou a extensão dos danos.
Casas sem telhado, ruas cobertas de carroças carbonizadas. Ao longe, o sino de uma igreja soava, rachado e silencioso. A guerra havia despojado tudo: a esperança, o orgulho, até mesmo a fé. A coluna avançava lentamente, as botas rangendo na geada. Os americanos permaneciam vigilantes, os olhos atentos ao menor movimento, mas não havia nenhum. A Alemanha havia se tornado um cemitério de ambições. No meio do caminho, um dos garotos tropeçou. Seu nome era Lucas, ele tinha apenas 15 anos, suas botas estavam em farrapos. Tentou se levantar, mas suas pernas cederam. O soldado Anderson, o mais próximo, abaixou-se e o ajudou a se levantar sem hesitar.
Ao passar o braço do garoto em volta de seu ombro, Lucas congelou, surpreso com a gentileza. “Warum?” perguntou ele fracamente. “Por quê?” respondeu Anderson simplesmente. “Porque você faria o mesmo pelo seu camarada, não faria?” Ele ofereceu um sorriso cansado e continuou caminhando. O grupo parou perto de uma pequena ponte para descansar. Um dos soldados passou cantis entre si, outro compartilhou um maço de cigarros Lucky Strike. Sentados separados, permaneceram assim, contemplando o rio. Lá embaixo, a água refletia o céu, um cinza opaco e sem vida. Ele pensou em sua casa em Bremen, em sua mãe esperando por cartas que nunca chegariam. O Sargento Weller se aproximou e se agachou ao seu lado.
“Você é daqui?” Emil balançou a cabeça negativamente. “Bem ao norte. Nos mandaram para o sul para deter seus tanques. Disseram que vocês nos deteriam com isso?” Weller apontou para o Panzerfaust engatado em uma carroça próxima. Emil deu um sorriso irônico. “Disseram que basta um homem corajoso.” Weller não respondeu. Não havia nada a dizer. A propaganda que havia criado esses garotos com ódio e lealdade cega já havia perdido toda a credibilidade. A guerra estava perdida, e mesmo assim eles ainda pagavam o preço. Atrás deles, o soldado Jenkins conversava em voz baixa com outro prisioneiro, um garoto chamado Otto.
“Você não devia ter mais de treze anos. Já atirou com esse rifle?”, perguntou Jenkins. Otto balançou a cabeça rapidamente. “Me deram ontem. Mandaram eu esperar sozinho na beira da estrada.” Ele assentiu. “Disseram que os americanos estavam vindo e que eu tinha que impedi-los.” Jenkins engoliu em seco. O menino parecia tão pequeno que era difícil imaginar que tivesse recebido tal ordem. “Suponho que você nos impediu”, disse ele baixinho. Otto não entendia inglês, mas sorriu mesmo assim. Depois de uma breve pausa, retomaram a caminhada. Por volta do meio-dia, encontraram uma casa de fazenda que milagrosamente sobrevivera ao bombardeio. Fumaça saía da chaminé.
Um raro sinal de vida: uma mulher emergiu de seu avental coberto de fuligem, segurando um pequeno pacote. Ela paralisou ao ver os americanos e seus jovens prisioneiros. Por uma fração de segundo, ninguém se moveu. Então, lentamente, ela se aproximou. Seu olhar percorreu a fila de meninos até parar em Lucas, o garoto que havia desmaiado antes. Ela engasgou de surpresa e deixou o pacote cair. O pão se espalhou pela terra compactada da mina. Ela correu para frente, chorando. Os guardas hesitaram, mas Weller ergueu a mão e a deixou passar. Lucas caiu nos braços da mãe, soluçando.
Ela segurou o rosto dele entre as mãos, repetindo seu nome várias vezes. Até os homens mais endurecidos da patrulha se afastaram, dando-lhes espaço. Por um breve instante, a guerra afrouxou seu domínio e a humanidade retornou. Então, a mulher agradeceu aos americanos oferecendo-lhes a pouca comida que lhe restava. Weller recusou educadamente, mas aceitou um pão para dividir entre os meninos. Não era muito, mas significava algo. Quando chegaram ao ponto de encontro naquela tarde, um oficial colheu seus depoimentos. Os meninos foram registrados, seus nomes anotados, seus pertences recolhidos. A maioria permaneceu sentada em silêncio, com a cabeça baixa.
Eles esperavam gritos, talvez algo pior, mas receberam cobertores, sopa quente e uma barraca para descansar naquela noite. Emil observava os americanos de seu catre. Eles riam baixinho entre si, compartilhando cigarros e contando histórias de casa. Ele não entendia o que diziam, mas podia ver o calor em seus rostos. Virou-se para Lucas, que agora dormia ao lado da mãe, e sussurrou: “Eles não nos odeiam”. Pela primeira vez em meses, sentiu uma espécie de paz, mas a misericórdia não apaga a culpa, e logo os meninos teriam que enfrentar as consequências de seus atos.
E o que eles haviam sido forçados a acreditar se despedaçou na manhã seguinte: cinzento e úmido, o acampamento perto de Lins am Rhein era um ponto de trânsito temporário para prisioneiros aguardando transferência. Fileiras de barracas de lona se estendiam por um campo lamacento, guardadas por alguns policiais americanos e cercadas por arame farpado. Não era uma prisão no sentido estrito, mas sim um local de espera para almas perdidas, incertas sobre o que aconteceria a seguir. Os meninos sentaram-se em silêncio, envoltos em cobertores grandes demais para seus corpos frágeis. O vapor subia das xícaras de café de lata que os americanos haviam distribuído. A maioria deles nunca havia provado café antes.
O calor intenso lhes preenchia os estômagos, acalmando os nervos à flor da pele após semanas de tensão. O cabo Haze circulava entre eles, distribuindo rações extras. “Comam devagar”, advertiu-os gentilmente, “ou vocês vão passar mal.” Emil assentiu, mastigando cuidadosamente um pedaço de carne enlatada. O sal ardia em seus lábios rachados, mas ele não se importava. Aquilo era comida de verdade, não a sopa rala e o pão amanhecido que lhes haviam dado no último posto avançado alemão, não muito longe dali. O soldado Anderson estava remendando a bota de um dos homens mais jovens com linha e agulha. “Não quero que vocês sofram congelamento de novo”, disse ele. “Vocês não podem sofrer congelamento de novo.”
Ele sorriu e disse que o menino não entendia as palavras, mas retribuiu o sorriso. Os americanos os tratavam não como prisioneiros, mas como crianças que haviam se aproximado demais do perigo. Havia disciplina; certamente, eles não podiam se afastar ou tocar nas armas empilhadas por perto, mas também havia afeto humano. Sem gritos, sem espancamentos, sem humilhação para os meninos. Era surreal. Eles haviam sido ensinados que se render significava morte, que os americanos atirariam neles ou os mandariam para as minas. Em vez disso, foram alimentados, vestidos e até mesmo tratados com gentileza. Era uma contradição grande demais para compreender.
Mais tarde naquele dia, um caminhão da Cruz Vermelha chegou, distribuindo pacotes com suprimentos essenciais: biscoitos, leite condensado e pequenas barras de chocolate embrulhadas em papel alumínio. Hayes pegou uma, desembrulhou e entregou a Emil. “Chocolate”, disse ele, apontando para a barra. Emil hesitou antes de pegá-la. Quebrou um pedaço e levou à língua. O sabor era incrivelmente doce, rico, diferente de tudo que ele havia provado desde antes da guerra. Seus olhos brilharam como se estivesse saboreando a própria lembrança. Ele partiu a barra ao meio e a estendeu. “Für meine schwester air mermelta” (para minha irmã). Hayes não entendeu as palavras.
Mas ele viu o gesto e assentiu. “Cuidado, garoto.” Do outro lado do acampamento, os homens mais jovens se reuniam em volta do fogão enquanto os mais velhos conversavam baixinho com os americanos que falavam um pouco de alemão. Eles faziam perguntas sobre beisebol, sobre Nova York, sobre o mar. Para eles, a América era um mito, uma terra de estrelas de cinema e comida em abundância. Agora, os homens daquele mundo distante sentavam-se ao lado deles, fazendo piadas e ajudando-os a lavar a sujeira do rosto. Um soldado ofereceu um cigarro a um jovem de 17 anos chamado Karl. O rapaz recusou. “Prometi ao meu pai que não fumaria”, disse ele em inglês arranhado.
O soldado riu. “Bom homem”, disse meu pai. “Por um instante, não havia uniformes, nem acampamentos, apenas pessoas caminhando sobre o abismo que a guerra havia criado e que a bondade começava a suavizar.” Ao cair da noite, o Sargento Weller escreveu seu relatório à luz da fogueira. Ele anotou a condição dos prisioneiros: desnutridos, congelando, mas cooperativos. No final, acrescentou uma frase simples, não exigida pelo regulamento: “São crianças, tratem-nas como tal.” Quando terminou, observou-os pela abertura da tenda. O menino menor tentava tostar pão em um espeto, enquanto os outros riam baixinho.
Era quase normal, e essa normalidade era uma forma de luto em si mesma. Weller se virou para Haze. “Você pensou no que vai acontecer com eles depois disso?” Haze deu de ombros. “Eles irão para um campo maior, talvez fiquem lá até o fim da guerra, e então voltarão para casa, se ainda tiverem uma.” Naquela noite, o campo mergulhou num sono inquieto. Os sons da guerra se dissiparam: nada mais de bombardeios, nada mais de aviões, apenas o distante estrondo do trovão sobre o Reno. Emil permaneceu acordado, ouvindo o silêncio. Pensou em sua aldeia, no professor que lhe dissera para lutar pelo Führer, nas promessas que o levaram até lá.
Tudo parecia uma mentira agora, palavras vazias engolidas pela lama deste acampamento. Ele virou a cabeça e observou a figura de um guarda americano caminhando lentamente ao longo da cerca. O rifle do homem brilhava à luz da lanterna, mas seu semblante era relaxado, quase cansado. Emil se perguntou que tipo de homem poderia lutar com tanta força e ainda assim demonstrar misericórdia. Pela primeira vez, ele não sentiu ódio, apenas confusão e gratidão. Ele sussurrou baixinho no ouvido de Dunka na escuridão. O guarda não o ouviu, mas talvez não importasse. A guerra ainda não havia terminado de sussurrar suas verdades.
E logo, ambos os lados aprenderiam que a compaixão às vezes é a coisa mais difícil de se trazer para casa. Dois dias depois, o céu clareou, o Reno brilhava sob um sol pálido e, pela primeira vez em meses, o ar cheirava a primavera em vez de fumaça. O acampamento havia entrado em seu ritmo: chamada matinal, café da manhã, inspeção e, em seguida, longas horas de espera — espera por ordens, espera pelo fim, espera por algo que ainda não entendiam. Naquela tarde, quando os guardas relaxaram a vigilância, alguns soldados americanos sentaram-se perto da fogueira dos prisioneiros, curiosos para saber mais sobre os meninos que haviam capturado.
A guerra havia lhes roubado todas as certezas, mas não sufocado sua curiosidade. O cabo Haze estava agachado perto das chamas com um intérprete de outra unidade. Emil e Karl estavam sentados em frente a ele, segurando suas xícaras de café. O intérprete, um homem quieto de Chicago chamado Weber, falava alemão fluentemente. Nascido em Hamburgo, sua família havia emigrado quando ele era criança; seu sotaque era uma mistura das duas culturas. “Pergunte a eles há quanto tempo estão lutando”, disse Hayes. Weber traduziu, e Emil olhou fixamente para o fogo antes de responder: “Duas semanas, talvez três. Nos tiraram da escola e disseram que já éramos heróis.”
Você acreditou neles? Emil hesitou a princípio. Eles nos mostraram fotos, filmes, discursos. Disseram que, se não lutássemos, os americanos destruiriam tudo. Meu professor chorou quando fomos embora. Disse que estava orgulhoso. (Traduzido para o hebraico) Haze balançou a cabeça. Aquele professor deveria saber mais. Karl, o mais velho, falou em seguida. Nós também não sabíamos de nada. Achávamos que era glorioso, mas quando vimos os tanques, soubemos que tudo havia acabado. Não se pode lutar contra ferro com esperança. O tradutor fez uma pausa, sem saber como formular a última frase. Haze apenas assentiu lentamente.
Não, você não pode. Ali perto, o soldado Anderson estava ensinando um garotinho a arremessar uma bola de beisebol. O menino ria cada vez que errava, com a voz aguda e trêmula. Ele repetia as palavras em inglês arranhado. A bola quicava em suas mãos, rolava na lama, e os dois caíam na gargalhada. Por um instante, aquilo deixou de parecer um campo de prisioneiros de guerra. Quando o jantar chegou — um ensopado ralo e pão amanhecido —, os guardas e os prisioneiros comeram no mesmo espaço aberto. A fronteira entre eles se tornava um pouco mais tênue a cada dia. Um americano contou uma história de sua terra natal: sua mãe era dona de um restaurante em Ohio.
O cheiro de bacon pela manhã. Os rapazes escutavam, com os olhos arregalados. A comida havia se tornado uma linguagem que todos entendiam. “Você sente falta?”, perguntou Emil através de Webber. “Todos os dias”, respondeu Hayes. “Sente mesmo”, concordou Emil. “Minha mãe costumava assar pão aos domingos. A rua inteira ficava com o cheiro.” Quando as bombas caíram, a padaria desapareceu. Um silêncio pesado se instalou. O fogo crepitava e estalava, preenchendo o espaço entre eles do outro lado do pátio. O Sargento Weller estava sentado em um caixote virado, escrevendo em seu pequeno caderno. Ele havia começado um diário.
Não batalhas, mas momentos como este: um menino sorrindo depois de comer chocolate, um guarda remendando a manga de um uniforme rasgado, a bondade florescendo nas ruínas da guerra. Ele sabia que a história se lembraria dos generais e das vitórias, mas não disso — da frágil misericórdia entre inimigos. Ao cair da noite, os homens e meninos se reuniram ao redor da fogueira. Weber tocou gaita, a melodia suave flutuando pelo acampamento. Não era americana nem alemã, apenas uma mistura das duas. Até os guardas pararam para ouvir. Então, um dos mais jovens, Otto, se pronunciou: “Quando eu voltar para casa, também quero tocar música.” Ele disse: “Chega de brigas.”
Weber traduziu. Hayes sorriu. “Você terá sua chance, garoto.” Otto sorriu timidamente. “Você vai jogar de novo amanhã?” Haze olhou para Webber. “Diga a ele que sim.” Pela primeira vez desde sua captura, o riso ecoou pelo acampamento. Uma luz genuína, quase humana. Mais tarde naquela noite, Emil sentou-se perto da fogueira, muito depois de os outros terem adormecido. Ele se lembrou das palavras de Karl: “Você não pode lutar contra o ferro com esperança.” Talvez ele quisesse dizer que se pode lutar contra o ódio com bondade. Talvez isso fosse mais forte. Ele olhou para a tenda dos guardas, onde Haze e Weller conversavam em voz baixa.
Ele não conseguia ouvir as palavras, mas reconheceu o tom, as vozes de homens que, como ele, ansiavam pelo fim da guerra. Quando o vento mudou de direção, o cheiro de madeira queimada se espalhou pelo campo. Emil fechou os olhos e pensou em sua casa, na cozinha de sua mãe, nas risadas, no cheiro de pão fresco. Tudo parecia incrivelmente distante, mas, pela primeira vez, ele acreditou que poderia ver tudo aquilo novamente. Contudo, a crença por si só não apagaria o passado, e logo os garotos seriam forçados a encarar as consequências de seus atos.
E os fantasmas que carregavam consigo na manhã seguinte criaram um silêncio arrepiante. Não havia mais o estrondo da artilharia, nem caminhões, nem ordens gritadas pelo campo, apenas o canto dos pássaros e o som distante dos sinos da igreja, um som que ninguém ouvia há semanas. A guerra estava desmoronando, e o silêncio parecia mais pesado que os tiros. Os prisioneiros estavam reunidos perto da cerca para a chamada. Os americanos estavam por perto, com os rifles a tiracolo, relaxados. Um jipe da Cruz Vermelha chegou com um estrondo, carregado de suprimentos médicos e uma enfermeira com um bloco de notas e um sorriso sereno.
Ela caminhava ao longo da fila, examinando os ferimentos dos meninos e falando com eles em uma voz suave que os fazia lembrar de casa. Alguns dos meninos ainda se encolhiam quando ela pegava em suas mãos, incapazes de esquecer o que a autoridade havia significado até então. O sargento Weller observava a cena a poucos passos de distância, com as mãos nos bolsos do casaco. Ele havia lutado por toda a França, cruzado o Reno, visto a devastação de batalhas que transformaram cidades em cemitérios, mas aquela cena — uma enfermeira enfaixando os dedos de um menino que tentara matá-lo poucos dias antes — lhe causava uma estranha sensação.
Depois, tudo o mais. Quando terminou, ela olhou para Weller. “São só crianças”, disse ela baixinho. “Eu sei”, respondeu ele. “É isso que torna tudo tão difícil.” Mais tarde naquele dia, um mensageiro chegou com jornais da frente de batalha. As manchetes anunciavam a queda de mais cidades alemãs, o colapso da Frente Ocidental e o avanço soviético sobre Berlim. Os meninos se aglomeraram em volta de Weber enquanto ele traduzia as notícias para o alemão. Cada frase parecia corroê-los por dentro. Karl, o mais velho, cerrou os punhos. “Então, acabou mesmo.”
Weber quase assentiu com a cabeça. Emil encarava o chão. Havíamos sido informados de que o Führer nos salvaria, que ele tinha novas armas. Do lado do Viber, disseram a muitas pessoas que não haveria comemoração, nem descanso, apenas um silêncio pesado para aqueles garotos. A guerra tinha sido o mundo deles, cada lição, cada cartaz, cada promessa. Agora, com algumas frases traduzidas, tudo havia desaparecido. Naquela tarde, enquanto o sol começava a se pôr, Emil sentou-se sozinho perto da cerca. Hayes aproximou-se, carregando duas xícaras de café. Entregou uma ao garoto. “Achei que você pudesse precisar”, disse ele. Emil aceitou com cautela.
Com as mãos ainda enfaixadas, Haze deu de ombros: “Por que você está sendo gentil conosco?”. “Porque alguém precisa ser.” Emil encarou a caneca fumegante. “Meu amigo morreu dois dias antes de você nos encontrar. Ele tinha 15 anos. Disse que queria ser corajoso. Levou um tiro tentando parar o seu tanque.” Sua voz tremia. “Ele era louco?” Haze não respondeu imediatamente. “Não, ele era um garoto que acreditava no que os adultos diziam. Não é loucura, é tragédia.” Os olhos de Emil se encheram de lágrimas. “Pensamos que você ia nos matar.” Haze olhou para o horizonte. “Todos nós já fizemos coisas das quais nos arrependemos, mas se pararmos de ver as pessoas como seres humanos…”
Então, o que restava fazer? Nenhum dos dois falou. O vento sussurrava através da cerca dilapidada. Em algum lugar do acampamento, alguém tocava a mesma melodia de gaita do dia anterior; pairava no ar como um fantasma de paz. Mais tarde, o Sargento Weller reuniu seus homens para um interrogatório. As ordens eram claras: os prisioneiros seriam transferidos para um centro de detenção maior perto de Koblenz. Os caminhões chegariam ao amanhecer. A guerra estava chegando ao fim, mas o dever deles ainda não havia terminado. “Certifiquem-se de que eles estejam alimentados antes de partirem”, disse Weller. “E mantenham a calma, nada de brutalidade. Faremos isso direito.”
Naquela noite, enquanto a fogueira se apagava, Emil e Karl sentaram-se lado a lado em silêncio. Karl falou primeiro. “Você acha que eles vão nos mandar para casa?” “Talvez”, respondeu Emil, “se ainda houver uma casa para onde ir.” Karl olhou para as mãos enfaixadas. “Eu nem sei mais quem eu sou. Disseram que éramos heróis, e agora não sou nada.” Emil pensou por um instante antes de responder: “Talvez seja assim que tudo recomeça.” Karl sorriu levemente. “Você parece um velho. A guerra faz isso”, respondeu Emil. A poucos passos de distância, Haze ouvia em silêncio. Queria dizer algo para confortá-los, mas sabia que havia feridas que as palavras não podiam curar.
Ele se virou para o rio, o luar cintilando em sua superfície, e se perguntou o que aqueles garotos levariam consigo quando a luta terminasse. Na manhã seguinte, quando os caminhões chegaram, os prisioneiros foram enfileirados e revistados pela última vez. Cada garoto carregava o pouco que possuía: um cobertor, uma fotografia, um pedaço de pão embrulhado em papel. Quando Amiel subiu a bordo, virou-se para Haze e ergueu uma pequena mão em despedida. Haze retribuiu o gesto. “Boa sorte, garoto.” O motor roncou e o comboio partiu para o leste, atravessando as grades do caminhão.
Emil observava a paisagem se desdobrar diante de si: campos enegrecidos pelo fogo, casas sem teto, uma terra exaurida pela ambição humana. Contudo, além, a primavera o aguardava. Fechou os olhos, não por medo desta vez, mas com um vislumbre de esperança. Mas até mesmo a esperança pode ser frágil. Ao deixarem o acampamento, soldados e meninos sabiam que a parte mais difícil não era sobreviver à guerra, mas aprender a viver depois dela. A estrada para o leste estendia-se por quilômetros, uma estreita faixa de terra serpenteando entre aldeias devastadas e campos silenciosos.
Onde a neve persistia nas sombras, a guerra desmoronava por todos os lados. Colunas de refugiados caminhavam penosamente pelas mesmas estradas, mães puxando seus filhos em carrinhos, velhos mancando com bengalas, os rostos acinzentados de exaustão. O comboio americano passava lentamente por eles, cada caminhão cheio de prisioneiros alemães que já não se pareciam com soldados, mas apenas com os remanescentes de uma era que o mundo queria esquecer. Em um dos caminhões, Emil estava sentado na carroceria, enrolado em seu cobertor militar. A viagem era turbulenta, mas ninguém reclamava; os meninos estavam absortos em seus próprios pensamentos.
Karl sentou-se ao lado dele, olhando fixamente através das persianas. “Olhem para eles”, murmurou, acenando com a cabeça na direção dos civis. “Lutamos por isso.” Emil não respondeu. A culpa o dominava, mais pesada do que a fome que antes o impulsionava. Ele ainda conseguia ouvir a voz de seu oficial, a voz do homem que ordenara a rendição. Aquele homem dissera que era covardia, que clemência era fraqueza. E, no entanto, eles estavam vivos graças àquela mesma clemência que lhes disseram que não existia. Em um posto de controle perto de Koblenz, os caminhões pararam. Um policial americano fez um gesto para que se movessem em direção a um cercado na encosta.
Com vista para o rio, o acampamento era mais limpo e maior do que o temporário: fileiras de tendas, uma cozinha de campanha e guardas que os cumprimentavam sem gritar. Os prisioneiros foram verificados novamente: nomes, idades, unidades. Quando um oficial leu em voz alta “15”, fez uma pausa, quase incrédulo. Naquela noite, após o jantar dos rapazes, um capelão visitou o acampamento. Era um homem tranquilo, com um olhar bondoso e um rosto marcado por anos de guerra e clima rigoroso. Falou devagar, por meio de um intérprete, não sobre vitória ou derrota, mas sobre perdão, sobre as batalhas mais difíceis.
Ele disse que aquelas eram as que começaram depois que as armas silenciaram. Alguns garotos escutaram, outros encararam o vazio, entorpecidos demais para se importar. Mas Emil sentiu cada palavra como um pequeno peso se instalando em seu peito. Ele pensou nos homens que não sobreviveram, não apenas seus amigos, mas também aqueles com quem eles lutaram. Os rostos que ele nunca viu, as vidas que ele ajudou a apagar, mesmo que apenas por estar do lado errado de uma linha traçada por adultos que mentiram para crianças. Naquela noite, o sono não veio facilmente. Ele permaneceu acordado, ouvindo o ronco suave dos outros e o zumbido distante dos geradores.
E em algum lugar além da cerca, o coaxar fraco dos sapos à beira do rio. Contra todas as probabilidades, o mundo ainda estava vivo; havia sobrevivido a eles. Ao amanhecer, os guardas abriram os portões para o trabalho diário. Os prisioneiros ajudaram a reconstruir uma ponte próxima, destruída pelos alemães em retirada. Emil e Karl carregavam tábuas sob o olhar atento dos engenheiros americanos. O ar estava denso com o cheiro de madeira úmida e água do rio. Enquanto trabalhavam, Emil avistou neblina e o Sargento Weller se aproximando do outro lado da ponte. Os dois homens haviam sido designados para supervisionar a construção.
Quando Haze o viu, ergueu a mão em cumprimento. Emil hesitou, depois acenou timidamente de volta. Weller passou por baixo das tábuas e parou ao lado dele. “Você é um trabalhador esforçado”, disse. “Continue assim e um dia terá um emprego de verdade à sua espera.” Emil tentou sorrir. “Se ainda houver um país…”, murmurou. “Haverá um”, respondeu Weller. “Só precisa ser construído pelas mãos certas desta vez.” Por um longo tempo, ficaram lado a lado, contemplando o Reno. A água fluía lenta e constantemente, levando embora os destroços da guerra. Ao final da semana, a notícia se espalhou pelo campo: a Alemanha havia se rendido; a guerra havia terminado.
Não houve gritos de alegria, nem canções, nem bandeiras, apenas silêncio. Alguns choravam em silêncio, outros encaravam o chão. O fim não foi nem vitória nem derrota; foi um vazio que eles ainda não sabiam como preencher. Emil passou os dias seguintes ajudando os americanos a distribuir comida para os civis. Ele entregava pão para crianças famintas, lembrando-se da barra de chocolate que havia compartilhado com Hayes. Ele compreendeu que a bondade não era uma arma, mas talvez algo mais poderoso. Antes que os americanos partissem, a neblina o alcançou. “Você estará em casa em breve.”
Ele disse: “Faça alguma coisa com isso, tá bom?” Emil assentiu. “Vou tentar.” Haze enfiou a mão no bolso e tirou um pequeno objeto: uma gaita amassada e arranhada. “Para aqueles momentos em que você se esqueceu do som da paz”, disse ele, colocando-a na mão do menino. O menino olhou para a gaita e depois para ela novamente. “Obrigado”, murmurou. Quando os americanos partiram, os caminhões seguiram para oeste, em direção à França, seus motores desaparecendo na distância. O acampamento estava mais silencioso agora. Emil sentou-se perto da cerca enquanto o sol se punha. Com a gaita fria na palma da mão, levou-a aos lábios e tocou algumas notas hesitantes.
O som oscilava, mas se propagava pelo ar da noite. Pela primeira vez, ele não se sentia mais como um soldado; sentia-se como uma criança novamente. Anos depois, histórias de crueldade e destruição seriam contadas, e com razão. Mas escondidas em meio a esse vasto oceano de dor também estavam histórias mais modestas: as de homens que escolheram a compaixão quando o ódio teria sido mais fácil, as de soldados que se lembraram de sua humanidade quando o mundo parecia tê-la perdido. E talvez, no fim, essa tenha sido a vitória silenciosa, pois a misericórdia, mesmo em tempos de guerra, deixa uma marca que sobrevive a todas as batalhas.